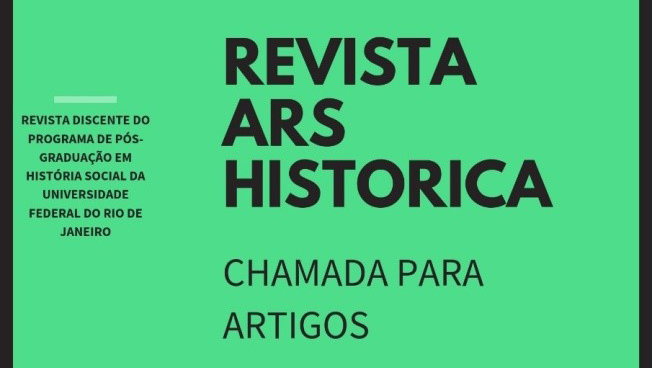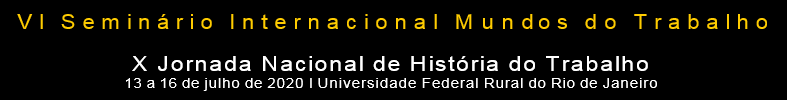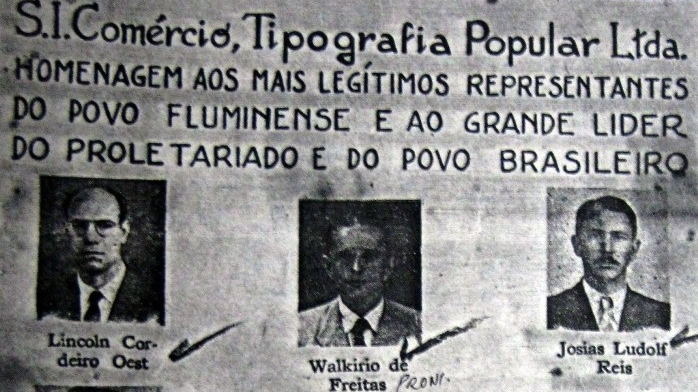Nesta semana, entre os dias
13 e 15 de agosto, será realizado o I Colóquio Sociedade, Cultura e
Trabalho: diálogos sobre fronteiras no Mundo Rural, na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Poeta
Torquato Neto, em Teresina/PI.
O Colóquio é uma é iniciativa de pesquisadores, professores e
estudantes vinculados ao Núcleo de Estudos e Documentação em História,
Sociedade Trabalho (NEHST), sob a coordenação da Professora Cristiana
Costa da Rocha (UESPI).
A problemática do mundo rural contemporâneo motivou a organização desse
evento científico, alçando a questão das fronteiras do trabalho para o centro
do debate. O evento é nacional e contará com mesas redondas mediadas por
pesquisadores de diversas várias regiões do país, além de duas conferências.
A Conferência de Abertura será proferida pelo Professor Clifford Welch
(UNESP) e a Conferência de Encerramento pelo Professor Paulo Fontes (UFRJ).
Destacam-se ainda mesas-redondas com os seguintes títulos: “Escravizados e
Indígenas na Fronteira”, “Sociedade e Mundos do Trabalho” e “Conflitos
nas Fronteiras do Mundo Rural”.
O Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho (LEHMT)
será representado pelos professores Paulo Fontes (UFRJ), que fará a Conferência
de Encerramento “História Social do Trabalho no Brasil: Trajetórias e
Desafios”; e Felipe Ribeiro (UESPI), compondo a mesa redonda “Sociedade
e Mundos do Trabalho” e ministrando o minicurso “Mundos do
Trabalho e fronteiras historiográficas: o lugar do trabalho rural”.
Mais informações no site do evento: https://www.csctuespi.com/
Programação Completa:
Terça-Feira, 13
de agosto de 2019
14h às 16h
Credenciamento
Local: Auditório Geratec
16h às 18h
Conferência de Abertura:
“Fronteiras agrícolas no Brasil e suas conflitualidades”
Prof. Dr. Clifford Welch (UNIFESP)
Local: Auditório Geratec
18h às 20h
Mesa I – Escravizados e Indígenas na Fronteira
Prof. Dr. João Paulo Peixoto Costa (IFPI)
Prof. Dra. Maria da Vitória Barbosa Lima (UESPI)
Prof. Dr. Gustavo de Andrade Durão (UESPI)
Mediador: Prof. Dr. Alcebíades Costa Filho (UESPI/UEMA)
Local: Auditório Geratec
Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019
08h30 às 09h30
Sessão de Pôsteres
Local: Praça do CCHL
09h30 às 11h30
Mesa II – Conflitos nas Fronteiras do Mundo Rural
Prof. Me. Antônio José Medeiros (UFPI)
Prof. Dra. Lucineide Barros Medeiros (UESPI)
Prof. Dr. Isaac Giribet Bernat (UEMA)
Mediador: Prof. Dr. José da Cruz Bispo de Miranda (UESPI)
Local: Auditório Geratec
14h00 às 18h00
Simpósios Temáticos
Local: Setor 12 e Setor 15
17h30
Atrações Culturais:
01) Peça teatral “O casamento de Maria Feia”.
Local: Praça do CCHL
18h00
Lançamento de Livros.
Local: Praça do CCHL
Quinta-Feira, 15 de Agosto de
2019
08h00 às 10h00
Simpósios Temáticos
Local: Setor 12 e Setor 15
10h00 às 12h00
Mesa III – Sociedade e Mundo do Trabalho
Prof. Dr. Felipe Ribeiro (UESPI)
Prof. Dr. Antonio Alexandre Isídio de Cardoso (UFMA)
Prof. Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira (UEMA)
Mediador: Profa. Dra. Cristiana Costa da Rocha (UESPI)
Local: Auditório Geratec
14h00 às 18h00
Minicursos
Local: Setor 12 e Setor 15
18h00
Conferência de Encerramento:
“História Social do Trabalho no Brasil: trajetórias e desafios”
Prof. Dr. Paulo Fontes (UFRJ)
Local: Auditório Geratec