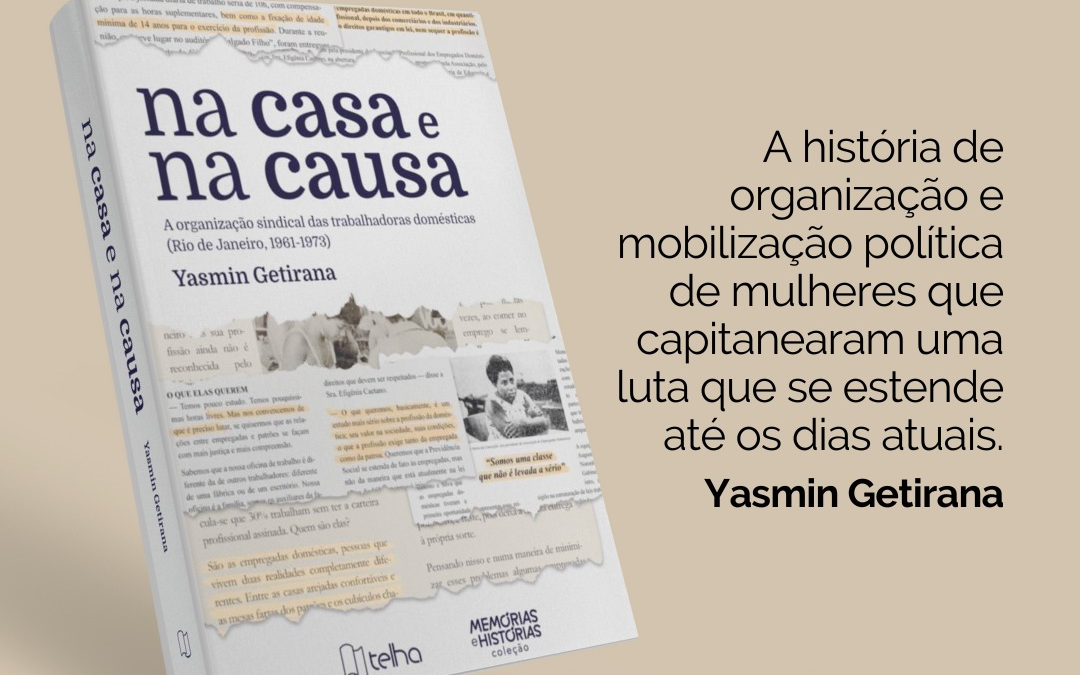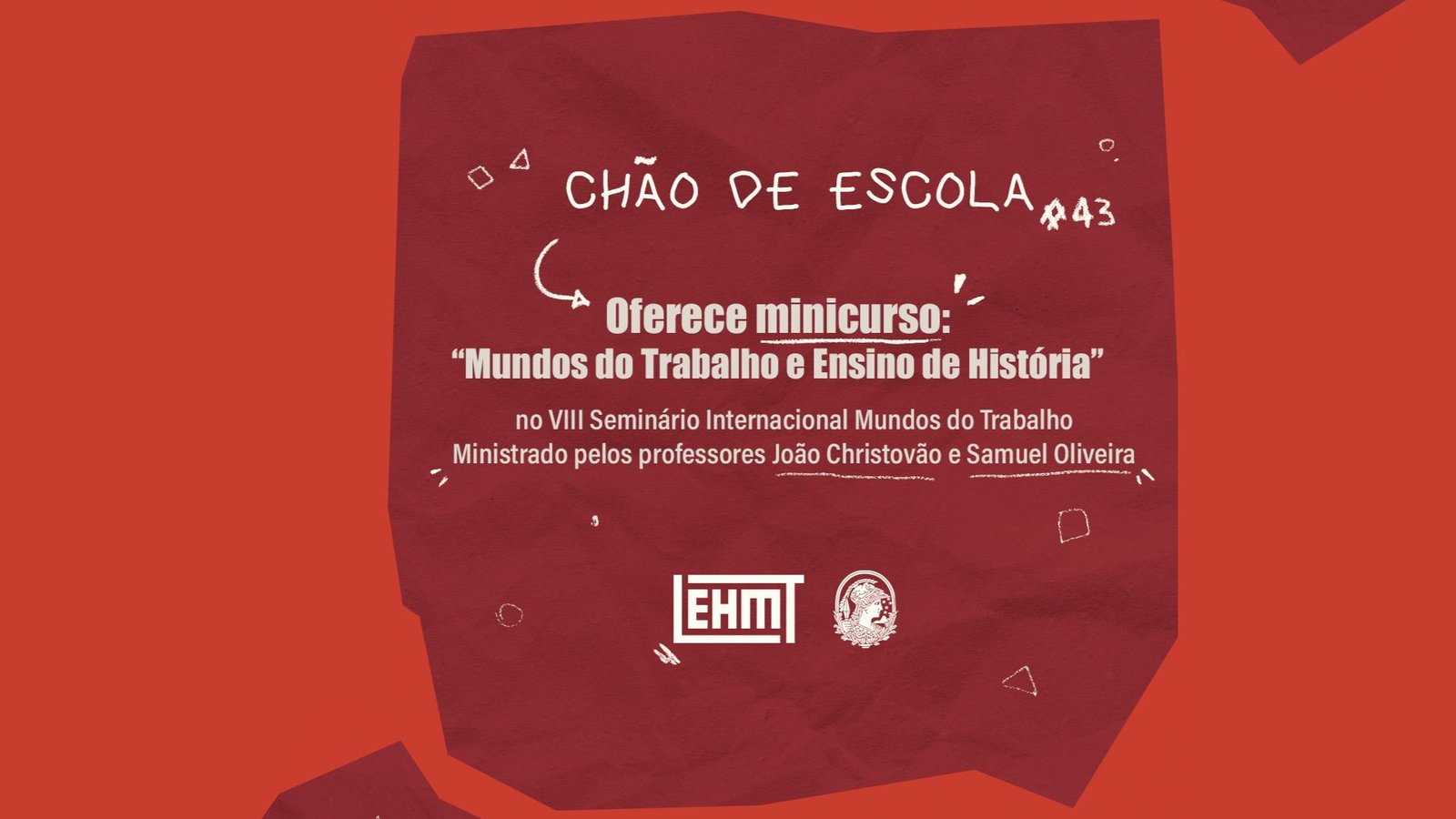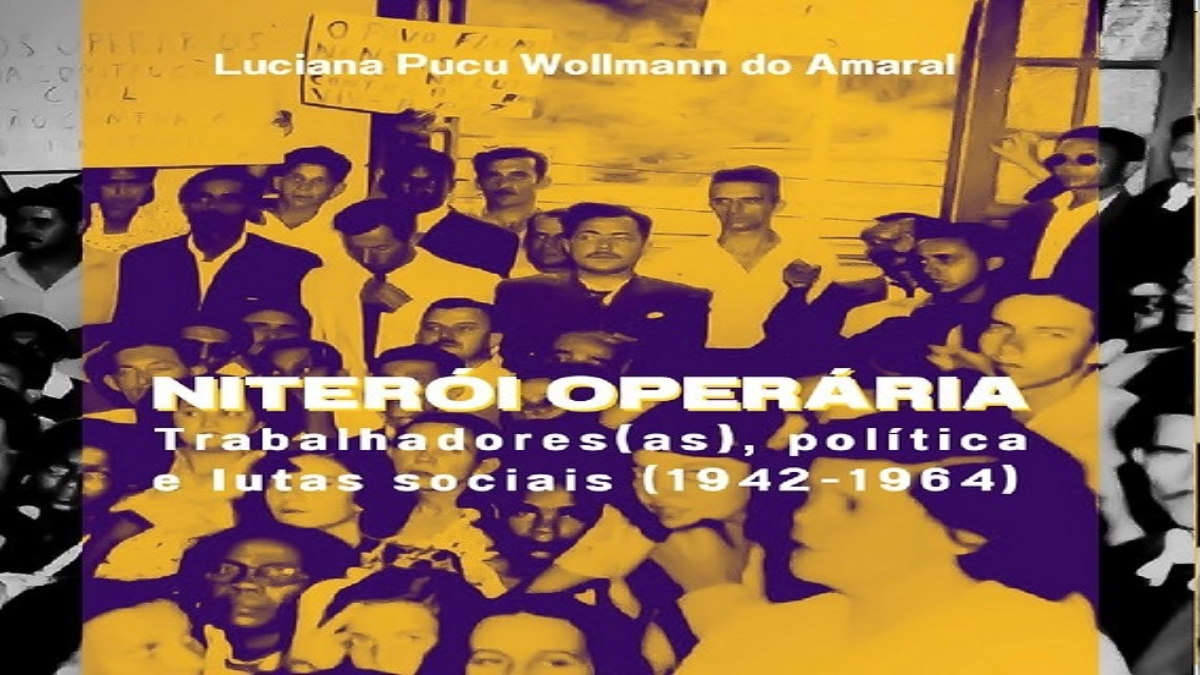Samuel Oliveira (CEFET-RJ/LEHMT-UFRJ)
João Christovão (SEE-RJ/LEHMT-UFRJ)
Data/Local
09/10 a 11/10, turno da manhã, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFSC
Resumo
O minicurso apresenta a questão da didática da história, a partir das práticas articulas na seção Chão de Escola (https://lehmt.org/category/chao-de-escola/) – projeto que criou uma rede com professores e comunidades de ensino na discussão da História Social do Trabalho. Assim, elabora como as noções de experiência, em E. P. Thompson, e educação popular criam interfaces entre educação e ensino de história.
Os seguintes temas serão abordados: as bases teóricas para reflexão sobre o ensino de história e os mundos do trabalho; o conceito de transposição didática e sua relação com a renovação da história social; os projetos de história pública e ensino de história, a partir da experiência do Chão de Escola; ocurrículo escolar e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC); e a produção de materiais didáticos numa oficina com uso de documentos.
O público alvo são os estudantes de graduação em história e pedagogia (ou outras licenciaturas), os professores de história das redes públicas e privadas, e os pesquisadores do evento VIII Seminário Internacional Mundos do Trabalho. Espera-se que ao final do curso os participantes compreendam o significado da didática da história na historiografia contemporânea e a maneira como a História Social do Trabalho oferece subsídios para refletir sobre a questão do ensino e na formulação de materiais didáticos.
Estrutura do curso:
9/10, horário 8h às 10h – Didática da História e Mundos do Trabalho: comunidades de ensino e história pública (Aula expositiva-dialogada)
10/10, horário 8h às 10h – Currículo escolar, BNCC e educação para relações étnico-raciais: perspectivas da história social do trabalho e transposição didática (Aula expositiva-dialogada e oficina)
11/10, horário 8h às 10h – Imagens, mapas e trabalhadores no ensino de história (Aula expositiva-dialogada e oficina).
Bibliografia Base
BERGER, John. O terno e a fotografia. In: BERGER, John. Para entender uma fotografia, 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria & Educação, Porto Alegre, v. 2, p. 177- 229, 1990.
CHRISTOVÃO, João. (2024). Entre o planejado e o vivido: aspectos da estrutura educacional formal da cidade de Cabo Frio e a experiência vivida pelos trabalhadores da cadeia produtiva do sal como elementos de reflexão sobre os desafios do ensino da História Regional hoje. Revista História Hoje, São Paulo, 13(27), p.162-185, 2024.
CITRON, Suzane. Ensinar história hoje. Lisboa: Livros Horizonte, 1990.
FORTES, Alexandre. “E. P. Thompson e Paulo Freire: Agência histórica e educação popular”. Dossiê Especial 100 anos de E. P. Thompson (2024). Laboratório de Estu-dos de História dos Mundos do Trabalho. Disponível em: https://lehmt.org/e-p–thompson-e-paulo-freire-agencia-historica-e-educacao-popular-alexandre-for-tes/. Acesso em: 13 mar. 2024.
GOMES, Ângela de Castro. Direitos e cidadania: algumas considerações preliminares In: ABREU, Martha e SOIHET, Rachel (org). Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia, 2ª ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2009.
HOOKS, bell. Ensinar a transgredir. Rio de Janeiro: Martinz, 2013
JOSHI, Chitra. Além da polêmica do provedor: mulheres, trabalho e história do trabalho. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 147-170, nov. 2009. ISSN 1984-9222.
KOUTSOUKOS, Sandra S. M. Negros livres, forros e escravos no estúdio do fotógrafo. In: KOUTSOUKOS, Sandra S. M. Negros no estúdio do fotógrafo: Brasil, segunda metade do século XIX – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010.
NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Trabalhadores negros e o paradigma da ausência: contribuições à História Social do Trabalho no Brasil. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 29, n. 59, p. 607-626, set./dez. 2016.
OLIVEIRA, Samuel, PUCU, Luciana, TORRES, Claudiane. Mundos do Trabalho e Ensino de História. Revista História Hoje, São Paulo, 13(27), p.4-30, 2024.
_______. Ensino de História e Mundos do Trabalho nas escolas: o “Chão da Escola” como prática de História Pública. In: BEZERRA, Danilo Alves, RIBEIRO, Felipe Augusto Alves dos Santos. (Org.). Ensino de História: teoria, práticas e novas abordagens. Recife: Edupe, 2023, p. 267-289
_______. A História Social do Trabalho em sala de aula. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, n.391, p. 1-7, 2022
RÜSEN, Jörn. Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: Editora UFPR, 2010
THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011 (Vol.1, 2, 3).
THOMPSON, Edward Palmer. Educação e Experiência. In: E. P Thompson. Os Românticos. A Inglaterra na era revolucionária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
Chão de Escola
Nos últimos anos, novos estudos acadêmicos têm ampliado significativamente o escopo e interesses da História Social do Trabalho. De um lado, temas clássicos desse campo de estudos como sindicatos, greves e a relação dos trabalhadores com a política e o Estado ganharam novos olhares e perspectivas. De outro, os novos estudos alargaram as temáticas, a cronologia e a geografia da história do trabalho, incorporando questões de gênero, raça, trabalho não remunerado, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes categorias e até mesmo desempregados no centro da análise e discussão sobre a trajetória dos mundos do trabalho no Brasil.
Esses avanços de pesquisa, no entanto, raramente têm sido incorporados aos livros didáticos e à rotina das professoras e professores em sala de aula. A proposta da seção Chão de Escola é justamente aproximar as pesquisas acadêmicas do campo da história social do trabalho com as práticas e discussões do ensino de História. A cada nova edição, publicaremos uma proposta de atividade didática tendo como eixo norteador algum tema relacionado às novas pesquisas da História Social do Trabalho para ser desenvolvida com estudantes da educação básica. Junto a cada atividade, indicaremos textos, vídeos, imagens e links que aprofundem o tema e auxiliem ao docente a programar a sua aula. Além disso, a seção trará divulgação de artigos, entrevistas, teses e outros materiais que dialoguem com o ensino de história e mundos do trabalho.
A seção Chão de Escola é coordenada por Claudiane Torres da Silva, Luciana Pucu Wollmann do Amaral e Samuel Oliveira.