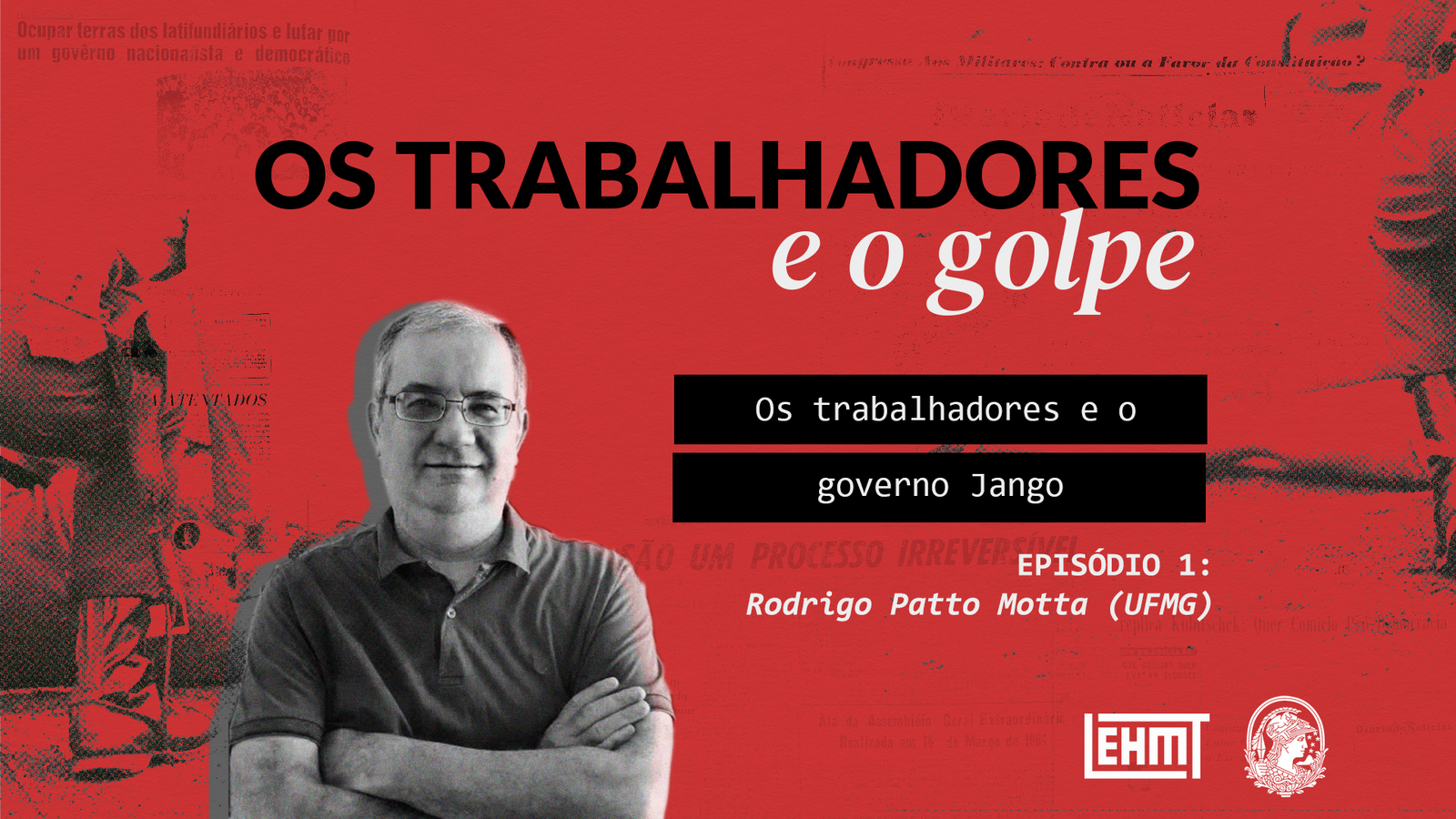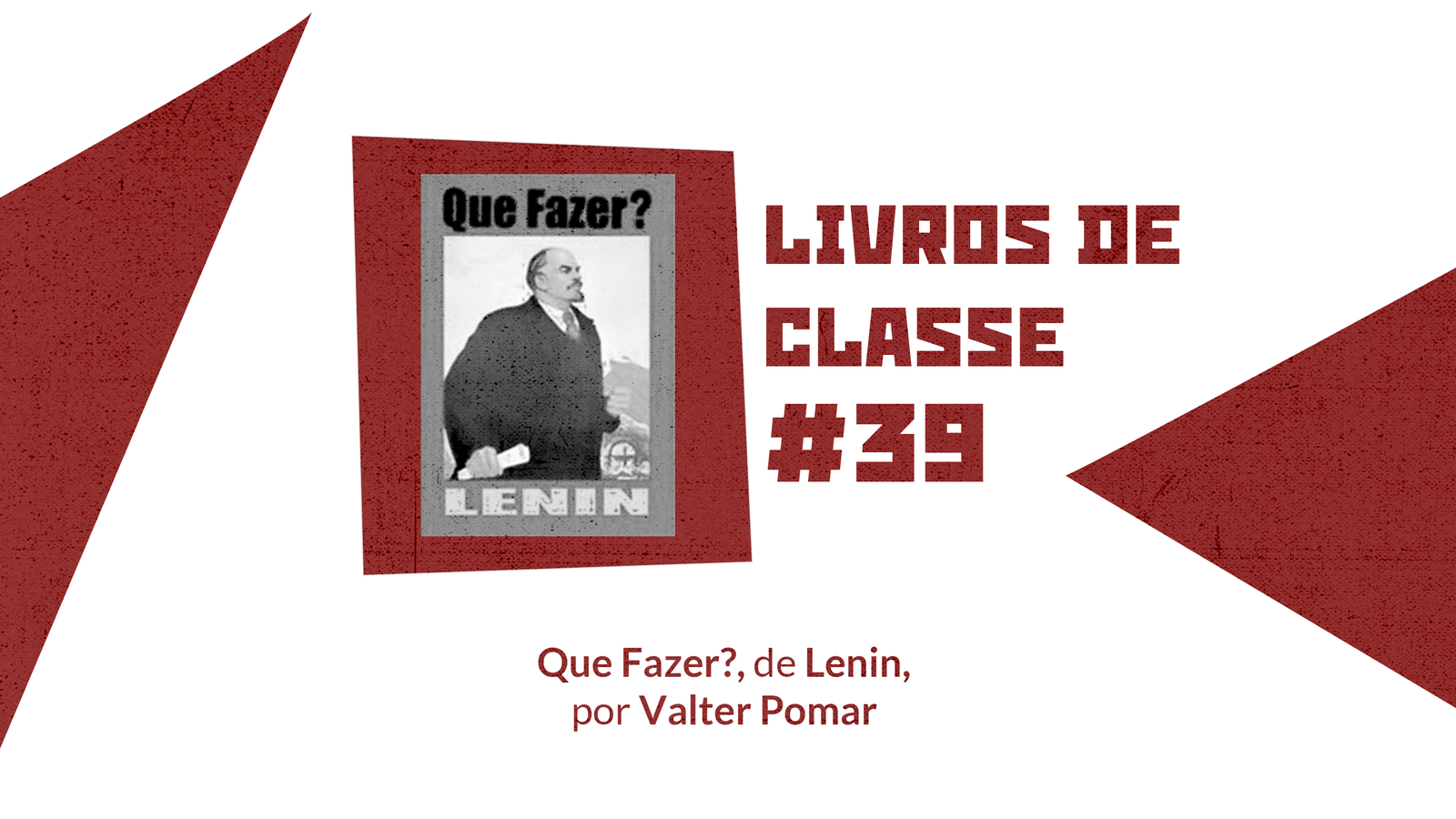O projeto “Desindustrialização e história social: a construção de um campo de pesquisa (Brasil e Alemanha)”, do Programa PROBRAL da CAPES/DAAD abre processo seletivo para a concessão de uma bolsa de pós-doutorado para estágio de pesquisa na Universidade do Ruhr- Bochum, Alemanha. Os/as candidatos/as deverão ter obtido o título de doutor/a há menos de 8 (oito) anos. As inscrições para seleção deverão ser feitas até o dia 10 de maio.
Autor: LEHMT
Os trabalhadores e o golpe – Ep. 4: Larissa Corrêa (PUC-Rio): O sindicalismo estadunidense e o golpe no Brasil
Nestes 60 anos do golpe de 1964, o portal do LEHMT/UFRJ convida à reflexão sobre o lugar dos mundos do trabalho neste evento decisivo para a história brasileira. Toda segunda-feira de abril, publicamos um episódio com entrevistas de historiadores/as abordando diferentes aspectos da relação entre os trabalhadores e o golpe.
No quarto episódio da série especial “Os trabalhadores e o golpe”, Larissa Corrêa (PUC-Rio) fala sobre o importante papel do sindicalismo estadunidense na conjuntura do golpe de 1964. Analisa também as relações entre Brasil e Estados Unidos no contexto da política que ficou conhecida como Aliança para o Progresso. Por fim, faz um balanço do lugar dos trabalhadores/as e suas organizações na historiografia sobre a ditadura militar.
Trabalhadores atingidos: a colaboração empresarial com a ditadura | EP02 Aracruz
A Aracruz apoiou a Ditadura (1964-1985). Durante o regime autoritário, a empresa expandiu seus negócios com incentivos e benefícios do governo. Instalada no Espírito Santo, atingiu mortalmente terras indígenas e quilombolas. Indígenas foram deslocados forçadamente dos territórios em que a empresa atuaria. Terras quilombolas foram invadidas e seus remanescentes expulsos. Posteriormente, os que ficaram foram submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão.
Esse caso é tema do segundo episódio da série Trabalhadores atingidos: a colaboração empresarial com a ditadura, do Vale Mais, podcast do LEHMT/UFRJ, realizada em parceria com o Centro de Memória do Sul Fluminense da UFF e com a rede de pesquisadores envolvidos no projeto “Responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a Ditadura” (projeto do CAAF/ UNIFESP com o MPF). São 4 episódios que exploram as colaborações da Petrobrás, CSN, Aracruz e Josapar, com a Ditadura.
O episódio está disponível no link abaixo e nas principais plataformas de podcast. Caso queira conhecer mais sobre as empresas que foram cúmplices da Ditadura, acesso o Informe Público da pesquisa, que além dos quatro casos acima, apresenta dados sobre a colaboração de outras empresas, a saber: Cobrasma, Docas, Fiat, Folha de São Paulo, Itaipu e Paranapanema.
Ficha técnica:
Projeto e execução: Alejandra Estevez, Bruno Cecílio, Deivison Amaral, Larissa Farias, Thompson Climaco | Roteiro: Deivison Amaral | Revisão de Roteiro: Alejandra Esteves | Edição: Deivison Amaral e Thompson Climaco | Apresentação: Larissa Farias | Entrevista com Joana D’Arc Ferraz: Alejandra Esteves, Deivison Amaral e Larissa Farias | Entrevista com trabalhadores atingidos: Joana D’Arc Ferraz
Equipe responsável pela pesquisa sobre a Aracruz:
Joana D’Arc Fernandes Ferraz |Ana Cláudia Bessa |Bárbara Goulart | Caio Mattos Santos | Cintia Christiele Braga Dantas| Flávia Mendes Ferreira | Geraldiny Malaguti | João Pedro Cavalcanti | Livia dos Santos Chagas | Maíne Santos Souza da Silva | Maynõ Guarani | Maíne Cunha da Silva | Rosane Arena Muniz
Os trabalhadores e o golpe – Ep. 03: Leonilde Medeiros (UFRRJ): Os camponeses e a Reforma Agrária “na lei ou na marra”
LEHMT/UFRJ apresenta Os trabalhadores e o golpe – Ep. 03: Leonilde Medeiros (UFRRJ): Os camponeses e a Reforma Agrária “na lei ou na marra”.
Nestes 60 anos do golpe de 1964, o portal do LEHMT/UFRJ convida à reflexão sobre o lugar dos mundos do trabalho neste evento decisivo para a história brasileira. Toda segunda-feira de abril, publicamos um episódio com entrevistas de historiadores/as abordando diferentes aspectos da relação entre os trabalhadores e o golpe.
Nesse terceiro episódio, Leonilde Medeiros (UFRRJ) fala sobre as impressionantes lutas e mobilizações dos trabalhadores rurais no final dos anos 1950 e início dos 60, analisando como a demanda por Reforma Agrária tornou-se uma questão central na disputa política durante o governo de João Goulart. Leonilde comenta ainda sobre o papel das Ligas Camponesas e dos sindicatos rurais naquela conturbada conjuntura.
Continuem nos acompanhando para os próximos episódios! Todas as segundas-feiras de abril um novo episódio no “Labuta”, canal do LEHMT/UFRJ no YouTube.
Trabalhadores atingidos: a colaboração empresarial com a ditadura | EP01 Petrobrás
A Petrobrás apoiou a Ditadura (1964-1985). A empresa agiu em cumplicidade com o regime autoritário e atuou como braço repressor sobre os trabalhadores. Já no primeiro dia da Ditadura, em 1º de abril de 1964, houve a detenção de um grupo expressivo de trabalhadores da empresa. Muitas prisões aconteceram nos locais de trabalho, que tiveram seus alojamentos transformados em centros de detenção e tortura.
Esse caso é tema do primeiro episódio da série Trabalhadores atingidos: a colaboração empresarial com a ditadura, do Vale Mais, podcast do LEHMT/UFRJ, realizada em parceria com o Centro de Memória do Sul Fluminense da UFF e com a rede de pesquisadores envolvidos no projeto “Responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a Ditadura” (projeto do CAAF/ UNIFESP com o MPF). São 4 episódios que exploram as colaborações da Petrobrás, CSN, Aracruz e Josapar, com a Ditadura.
O episódio está disponível no link abaixo e nas principais plataformas de podcast. Caso queira conhecer mais sobre as empresas que foram cúmplices da Ditadura, acesse pelo link abaixo o Informe Público da pesquisa, que além dos quatro casos acima, apresenta dados sobre a colaboração de outras empresas, a saber: Cobrasma, Docas, Fiat, Folha de São Paulo, Itaipu e Paranapanema.
Ficha técnica:
Projeto e execução: Alejandra Estevez, Bruno Cecílio, Deivison Amaral, Larissa Farias, Thompson Climaco | Roteiro: Deivison Amaral | Revisão de Roteiro: Alejandra Esteves | Edição: Deivison Amaral e Thompson Climaco | Apresentação: Larissa Farias | Entrevista com Luci Praun: Alejandra Esteves, Deivison Amaral e Larissa Farias | Entrevista com trabalhadores atingidos: Luci Praun.
Equipe responsável pela pesquisa sobre a Petrobras:
Luci Praun (Ufac, pesquisadora responsável) | Alex de Souza Ivo (Ifba) | Carlos E. S. de Freitas (Ufba – Uneb) | Claudia Lima da Costa (Jornalista) | Júlio Cesar P. de Carvalho (UFF) | Márcia Costa Misi (UEFS) | Ana Letícia de Fiori (Ufac) | Marcos de Almeida Matos (Ufac) | Vitor Góis (Pesquisador Unir)

Vale mais #35: Entre o socialismo e o corporativismo, por Aldrin Castellucci – Vale Mais
- Vale mais #35: Entre o socialismo e o corporativismo, por Aldrin Castellucci
- Vale Mais #34: À frente dos negócios: a atuação das viúvas na direção de comércios de secos e molhados na cidade do Rio de Janeiro, por Jéssica Santanna
- Vale Mais #33: Jogo, logo existo: Futebol, conflito social e sociabilidade na formação da classe trabalhadora em Rio Grande, por Felipe Bresolin
- Vale Mais #32: Breve dicionário analítico sobre a obra de Edward Palmer Thompson, por César Queirós e Marcos Braga
- Vale Mais #31: Saraiva, Dantas e Cotegipe: baianismo, escravidão e os planos para o pós-abolição no Brasil, por Itan Cruz
Chão de Escola #40: O estranho caso da morte do operário Luiz
Maria Luiza Coelho (estudante de licenciatura em História pela UFF, residente pedagógica do PIRP/CAPES desde outubro de 2022)
Matheus Lira da Silva (graduando de licenciatura em História pela UFF, residente pedagógico do PIRP/CAPES desde maio de 2023).
Luciana Pucu Wollmann (professora de História da rede municipal de Niterói e da rede estadual do Rio de Janeiro. Doutora em História pela FGV e integrante do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho (LEHMT/ UFRJ), onde coordena a seção “Chão de Escola”)
Apresentação da atividade
Segmento: 6º ano do Ensino Fundamental
Unidade temática: Lógicas de organização política e História: tempo, espaço e formas de registro.
Objetos de conhecimento:
– As noções de cidadania política
– Formas de registro da História e da produção do conhecimento
Objetivos gerais:
– Contextualizar o período anterior ao golpe de 1964, procurando apresentar os principais aspectos que identificam esse período como uma “democracia de massas”;
– Apresentar como se deu a instalação da ditadura empresarial-militar no Brasil em 1964;
– Identificar os atores políticos que resistiram e lutaram contra a ditadura, bem como o aparato repressivo montado pela ditadura para reprimi-los;
– Correlacionar o contexto que levou ao golpe de 1964 com os capítulos da história recente do Brasil;
– Sensibilizar os/as estudantes para o uso de fontes históricas, bem como para o de cruzamento das fontes;
– Refletir sobre o trabalho do/a historiador/a, que se baseia em evidências e também na interpretação das fontes.
| Aulas | Planejamento |
| 02 | Apresentação do tema e contextualização |
| 03 | Realização da atividade |
| 04 | Apresentação dos grupos |
Conhecimentos prévios:
– Reflexões sobre o que é História e sobre o ofício do/a historiador/a;
– As fontes históricas, a suas tipologias e variedades;
Atividade
Recursos: datashow, som e cópias impressas.
Etapa 1: Apresentação do tema e contextualização
Sugerimos ao/ à colega que contextualize o período histórico anterior ao golpe de 1964, bem como as principais características da ditadura que se instalou no Brasil e perdurou por 21 anos (1964-1985). A ideia aqui é procurar debater com os/as alunos/as que, apesar de ser um capítulo recente da História do Brasil, este é um tema pouco estudado e conhecido entre a população brasileira.
Achamos pertinente ainda, correlacionar o golpe de 1964 com acontecimentos recentes, tais como o golpe de 2016, que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a tentativa de golpe em Brasília em 8 de janeiro de 2023.
Como material de apoio, sugerimos os materiais abaixo:
1945 a 1964 – Democracia de massas (Memorial da Democracia):
Série “Incontáveis” (Fórum da Ciência e Cultura da UFRJ). Episódio 1 (Trabalhadores na ditadura):
Você sabia que entre 1964 e 1985 existiu uma ditadura no Brasil? (PowerPoint, clique para baixar)
Etapa 2: Realização da atividade
O estranho caso da morte do operário Luiz
Sugerimos ao ou à colega que projete em um data-show as seguintes imagens:
No dia 30 de abril de 1968, o trabalhador Luiz Fernando foi encontrado morto longe de sua casa, no município de Osasco, em São Paulo. A vítima trabalhava em uma empresa metalúrgica há alguns anos e, dentro dessa empresa, era conhecido por sua determinação em lutar pelos direitos dos trabalhadores, o que o tornou uma figura conhecida pelas autoridades e por grandes empresários locais. Sua morte deixou a comunidade em estado de choque e apreensiva em relação ao que realmente ocorreu naquela noite.
Segundo a polícia militar, havia duas hipóteses sobre a morte de Luiz Fernando. A primeira hipótese é de que Luiz Fernando teve a sua casa invadida por assaltantes e que, ao tentar reagir, foi sequestrado e morto a tiros. A segunda hipótese da polícia é de que Luiz Fernando participava de muitos conflitos dentro da empresa e que por isso, algum colega da empresa poderia ter cometido o assassinato.
Luiz era conhecido por ser uma pessoa bastante querida entre os seus colegas de trabalho e também por ajudar os seus vizinhos em suas tarefas domiciliares. A polícia averiguou que a maçaneta da casa de Luiz Fernando estava quebrada, porém, não conseguiu identificar nenhum pertence roubado da casa, apenas um caixa com alguns folhetos que estavam bagunçados no chão. Além disso, segundo testemunhas da região, não foi possível ouvir nenhum disparo naquela noite.
Algumas evidências ajudam a elucidar o caso. Dentre os documentos encontrados no chão da casa de Luiz Fernando, havia diversos folhetins referentes a uma greve que iria ocorrer nas semanas seguintes:

Com a vítima, além de seus pertences, foi encontrada também uma carteirinha de filiação:

Uma notícia de jornal que coletou relatos de outros trabalhadores da fábrica também traz algumas pistas sobre o caso:
1 de maio de 1968, Osasco, São Paulo
DIA DO TRABALHADOR COM GRANDE PERDA OPERÁRIA
Trabalhadores da Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários (Cobrasma) relataram a nossa equipe jornalística que a morte do operário Luiz Fernando Moreira da Silva, registrada no dia 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador, teria sido negligenciada pela polícia.
Um dos operários entrevistados, que preferiu não se identificar, nos contou:
• Luizinho era gente fina. . . não tem porque alguém ter feito isso com ele. Sabe um cara que não tem inimigos? Quer dizer, até tinha, mas aí já não me cabe, senão também eu me prejudico. Mas que essa história tá estranha, tá sim!
Um morador da vizinhança onde Luiz Fernando morava com sua família também relatou:
• Olha, eu ouvi sim um som de porta arrombada, mas som de tiro não teve não. Não faz sentido também terem roubado só a casa de Luiz! Todo mundo acha que tá estranho isso, mas ninguém quer falar. . . é melhor ficar quieto pra não ser o próximo.
Procuramos também a esposa de Luiz Fernando, mas os vizinhos informaram que no dia seguinte à tragédia a viúva já havia se mudado para a casa de uma tia em outro estado.
A polícia militar chegou à conclusão de que as evidências encontradas não tinham relevância para a conclusão do caso e encerrou o inquérito afirmando que a morte de Luiz Fernando foi ocasionada por uma tentativa de assalto. Após a notícia do caso chegar aos jornais, houve indignação dos familiares de Luiz e dos trabalhadores da empresa metalúrgica. Segundo eles, a polícia ignorou qualquer evidência encontrada no caso e decidiu encerrar o inquérito rapidamente. Além disso, segundo os mesmos, alguns militares que trabalhavam no caso demonstraram repulsa em relação às práticas organizadas pelos sindicalistas.
Agora que você já tem as evidências, reúna-se com seus colegas para responder às seguintes perguntas:
1) A versão do crime emitida pela polícia parece ser verdadeira?
2) Se a resposta for negativa, quem você acha que assassinou Luiz Fernando?
3) Escreva aqui a reconstituição do crime, explicando as pistas apresentadas.
Etapa 3: Apresentação dos grupos
Nesta etapa, cada grupo deve apresentar a sua versão do crime. O/a professor/a deve registrar no quadro o resultado de cada equipe. É possível identificar que, por mais próximas que as versões se apresentem, elas apresentam algumas diferenças. A ideia aqui é aproveitar a atividade e explicar que é possível verificarmos algo parecido na disciplina histórica, que ainda que se baseie em evidências, pode apresentar diferentes versões.
Ao final da atividade, o docente deve explicar que não existe propriamente uma resposta correta para as perguntas. O objetivo do trabalho era fazer os/as estudantes atentarem para as informações das fontes, inserindo-as dentro do contexto. Sendo assim, desempenhou bem a atividade os grupos que conseguiram correlacionar às fontes para construir a sua versão.
Bibliografia e Material de apoio:
Brasil de Fato Minas Gerais. Primeira grande greve após o golpe de 64 completa meio século. Disponível em: https://www.brasildefatomg.com.br/2018/05/29/primeira-grande-greve-apos-o-golpe-de-64-completa-meio-seculo. Acesso em: 28 mar. 2024.
Centro de Documentação e Memória (CEDEM). O grupo de Osasco e a greve de julho de 1968. Disponível em: https://www.cedem.unesp.br/#!/noticia/626/o-grupo-de-osasco-e-a-greve-de-julho-de-1968. Acesso em: 27 mar. 2024.
CUT (Central Única dos Trabalhadores). Perseguição da ditadura chegou a 10 mil dirigentes sindicais. Disponível em: https://www.cut.org.br/noticias/memoria-perseguicao-da-ditadura-chegou-a-10-mil-dirigentes-sindicais-2fe3. Acesso em: 27 mar. 2024.
Memorial da Democracia. Exército reprime a greve de Osasco. Disponível em: https://memorialdademocracia.com.br/card/exercito-reprime-a-greve-de-osasco. Acesso em: 27 mar. 2024.
Créditos da imagem de capa: VANNUCHI, Camilo. Neste Finados, relembre os 434 mortos e desaparecidos da ditadura. Universo Online (UOL), 02 de novembro de 2019. Disponível em: https://camilovannuchi.blogosfera.uol.com.br/2019/11/02/neste-finados-relembre-os-434-mortos-e-desaparecidos-da-ditadura/
Chão de Escola
Nos últimos anos, novos estudos acadêmicos têm ampliado significativamente o escopo e interesses da História Social do Trabalho. De um lado, temas clássicos desse campo de estudos como sindicatos, greves e a relação dos trabalhadores com a política e o Estado ganharam novos olhares e perspectivas. De outro, os novos estudos alargaram as temáticas, a cronologia e a geografia da história do trabalho, incorporando questões de gênero, raça, trabalho não remunerado, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes categorias e até mesmo desempregados no centro da análise e discussão sobre a trajetória dos mundos do trabalho no Brasil.
Esses avanços de pesquisa, no entanto, raramente têm sido incorporados aos livros didáticos e à rotina das professoras e professores em sala de aula. A proposta da seção Chão de Escola é justamente aproximar as pesquisas acadêmicas do campo da história social do trabalho com as práticas e discussões do ensino de História. A cada nova edição, publicaremos uma proposta de atividade didática tendo como eixo norteador algum tema relacionado às novas pesquisas da História Social do Trabalho para ser desenvolvida com estudantes da educação básica. Junto a cada atividade, indicaremos textos, vídeos, imagens e links que aprofundem o tema e auxiliem ao docente a programar a sua aula. Além disso, a seção trará divulgação de artigos, entrevistas, teses e outros materiais que dialoguem com o ensino de história e mundos do trabalho.
A seção Chão de Escola é coordenada por Claudiane Torres da Silva, Luciana Pucu Wollmann do Amaral e Samuel Oliveira.
Os trabalhadores e o golpe – Ep. 02: Murilo Leal (UNIFESP): A “República sindicalista”: greves, política e o golpe
LEHMT/UFRJ apresenta “Os trabalhadores e o golpe” Episódio 2: Murilo Leal (UNIFESP): A “República sindicalista”: greves, política e o golpe
Nesses 60 anos do golpe de 1964, o portal do LEHMT/UFRJ convida à reflexão sobre o lugar dos mundos do trabalho neste evento decisivo para a história brasileira. Toda segunda-feira de abril, publicamos um episódio com entrevistas de historiadores/as abordando diferentes aspectos da relação entre os trabalhadores e o golpe.No segundo episódio, Murilo Leal (UNIFESP) fala sobre o lugar central do movimento sindical na efervescente conjuntura que antecedeu o golpe de 1964. Leal analisa a crescente presença pública de lideranças sindicais e seu papel na construção de uma agenda de reformas sociais no país. Comenta ainda sobre as greves e as mobilizações em geral daquele período.Não percam! Todas as segundas-feiras de abril um novo episódio no Labuta, canal do LEHMT/UFRJ no Youtube.
LMT #129: Praça Serzedelo Correia, Copacabana, Rio de Janeiro (RJ) – Yasmin Getirana
Yasmin Getirana
Doutoranda em História Internacional na London School of Economics e pesquisadora do LEHMT/UFRJ
Uma das maiores categorias profissionais femininas no Brasil, trabalhadoras domésticas frequentemente desempenham seu serviço sozinhas. Não conseguindo sociabilizar com outras colegas nas casas onde trabalham, elas encontraram em espaços como praças públicas um local não apenas de trânsito, mas também de lazer, convivência e por vezes, de manifestação coletiva.
Antes da criação da Associação Profissional de Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro (APED-RJ), em 1961, era comum que reuniões entre trabalhadoras domésticas fossem realizadas em praças. Mesmo após a conquista da sede própria, em 1985 no bairro do Rio Comprido, a prática continuou como uma forma de levar a APED-RJ a locais distantes. A sindicalista Nair Jane de Castro Lima lembra que, entre as décadas de 1960 e 80, praças, mercados, escolas e igrejas, eram locais em que as participantes podiam divulgar a associação, principalmente para babás. A Praça Serzedelo Correia logo se destacou como um desses lugares.
A praça, localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, foi criada em 1893, e inicialmente chamada Malvino Reis. Seu nome atual faz alusão ao militar e político paraense Inocêncio Serzedelo Correia que foi por dois mandatos prefeito da cidade. O local foi remodelado diversas vezes até chegar ao desenho de hoje. A partir da década de 1940, Copabacana passou por um intenso processo de verticalização e urbanização e o bairro tornou-se um dos principais locais de moradia das camadas mais abastadas da sociedade carioca. Como consequência, Copacabana também atraiu muitos trabalhadores prestadores de serviços.
Durante a década de 1970, a Serzedelo Correia passou a ser conhecida como “Praça dos Paraíbas”. O termo era usado na cidade como uma maneira pejorativa de se referir às pessoas oriundas das regiões norte e nordeste do país, maioria dos frequentadores da praça. Operários, porteiros e babás com crianças eram tão presentes que a praça servia não só como ponto de encontro informal, mas também de realização de eventos culturais ligados à cultura nordestina.
O fluxo constante de trabalhadoras domésticas no local pode ter sido influenciado também pela Igreja de Nossa Senhora de Copacabana, ao lado da praça. Lá, funcionou a partir de 1971 um dos núcleos da Pastoral da Doméstica, iniciativa da Igreja Católica que, similar a movimentos como a Juventude Operária Católica, tinha uma relação próxima à APED-RJ.
A praça também é emblemática para a história sindical e política das domésticas, pois foi ali que aconteceu o primeiro ato público realizado pela categoria no Rio de Janeiro.
Anazir Maria de Oliveira, a Dona Zica, relembra que todo dia 27 de Abril, Dia da Empregada Doméstica, era comum que, após a realização da missa na Igreja Nossa Senhora de Copacabana, patroas distribuíssem rosas para suas funcionárias. Por entender essa tradição como superficial, em 1984 ela propôs um evento que, até onde se sabe, foi inédito dentro da mobilização coletiva da categoria a nível nacional. Foram confeccionados bottons e camisetas e decidiu-se em Assembleia realizar um ato público naquele local. A princípio, a proposta foi recebida com receio por aquelas que acreditavam que trabalhadoras domésticas não iriam querer se identificar como tal por vergonha. No entanto, o movimento foi surpreendente. Nair Jane lembra que: “colocamos 500 domésticas na Praça Serzedelo Correia, você não via nada, só via as meninas”. A imprensa logo chegou ao local. Além disso, outros sindicatos e movimentos sociais se uniram ao ato em solidariedade. Certamente, as domésticas eram impactadas pelo clima generalizado de mobilização social e política que o país vivia naquele primeiro semestre de 1984, com protestos, comícios e manifestações demandando democracia e o fim da ditadura, na campanha que ficou conhecida como Diretas Já.
Na imprensa, o Jornal do Brasil noticiava que: “Muitas foram à praça como fazem há anos: com o uniforme de babá, a criança da patroa no carrinho […] Mas ontem foi diferente: afinal, era o Dia da Doméstica”. Por conta disso, “elas esqueceram o horário de voltar, dançaram na Praça Serzedelo Correia, em Copacabana, e reivindicaram melhores condições de trabalho”. Segundo o jornal “eram tão animadas e gritavam tanto, que [era] impossível passar por ali sem parar para ver”. A então vereadora pelo PT, Benedita da Silva, aliada de longa data da categoria e presente no evento, lembrou-se de quando trabalhava como doméstica e das más condições de trabalho dispensada às trabalhadoras, incluindo a questão dos espaços de habitação precários das mensalistas, os “quartinhos de empregada”.
De lá para cá, o movimento sindical das trabalhadoras domésticas continuou a crescer e negociou direitos para categoria em diversos momentos, como na Constituinte, na PEC das domésticas, na Lei Complementar nº 150, e em fóruns multilaterais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com a Convenção 189, pela dignidade do trabalho doméstico.
São várias as praças do Rio de Janeiro lembradas pelo movimento das trabalhadoras domésticas, a exemplo da Praça General Osório, em Ipanema, a Sanz Peña, na Tijuca, e o Largo do Machado, no Catete. Neste último, inclusive, um ato similar foi realizado três anos depois, também no dia 27 de abril. No entanto, a Praça Serzedelo Correia se destaca por ser, com frequência, um espaço de referência para a sociabilidade de trabalhadores migrantes e onde trabalhadoras domésticas, muitas delas também de fora do Estado, organizaram uma manifestação pública inédita e importante na história da luta por direitos dessa categoria tão fundamental nos mundos do trabalho no Brasil.

Manchete do Jornal do Brasil sobre manifestações da trabalhadoras domésticas cariocas, 28 de abril de 1984
Para saber mais:
- Barbosa, Fernando Cordeiro. A ritualização do pertencimento: O “paraíba” e seus espaços. Travessia – revista do migrante, n. 38, p. 23-26, 2000.
- Chalhoub, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. Campinas: Editora da UNICAMP, 2001.
- Esteves, Martha de Abreu. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
- Fontes, Paulo et al. ‘Eu tinha minha liberdade’: Entrevista de Nair Jane de Castro Lima, liderança histórica das trabalhadoras domésticas do Rio de Janeiro. Revista Mundos do Trabalho, Santa Catarina, v. 10, n. 20, p. 167-189, 2018.
- Getirana, Yasmin. Na casa e na causa: A organização sindical das trabalhadoras domésticas (Rio de Janeiro, 1961-1973). Rio de Janeiro: Editora Telha, 2023.
Crédito da imagem de capa: Praça Serzedelo Correa nos anos 1950. É possível notar a presença de várias babás e trabalhadoras domésticas uniformizadas. Fonte: https://copacabana.com/praca-serzedelo-correia
MAPA INTERATIVO
Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:
Lugares de Memória dos Trabalhadores
As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.
A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.
Os trabalhadores e o golpe – Ep. 01: Rodrigo Patto Motta (UFMG): Os trabalhadores e o governo Jango
Nesses 60 anos do golpe de 1964, o portal do LEHMT/UFRJ convida à reflexão sobre o lugar dos mundos do trabalho neste evento decisivo para a história brasileira. A partir de 1º de abril, e nas quatro segundas-feiras seguintes do mês, publicaremos cinco episódios de vídeos com entrevistas curtas com historiadores/as abordando diferentes aspectos da relação entre os trabalhadores e o golpe.
Nesse primeiro episódio, Rodrigo Patto Motta (UFMG) comenta sobre o lugar dos trabalhadores e suas organizações no conturbado jogo político do governo Jango. Fala ainda sobre como as diferentes forças políticas se posicionavam em relação às crescentes demandas por reformas e direitos sociais naquela conjuntura e sobre o importante papel do anticomunismo na visão de mundo de grande parte das elites brasileiras.
Livros de Classe #39: Que fazer?, de Lenin, por Valter Pomar
Neste episódio, que abre a temporada 2024 de Livros de Classe, Valter Pomar (UFABC), no centenário da morte de Vladimir Ilich Ulianov, o Lenin, apresenta “Que fazer?”. Publicado originalmente em 1902, o livro tornou-se um clássico do pensamento marxista e uma referência para diversos movimentos revolucionários e setores do movimento operário ao longo do século XX.
Livros de Classe
Os estudantes de graduação são desafiados constantemente a elaborar uma percepção analítica sobre os diversos campos da história. Nossa série Livros de Classe procura refletir justamente sobre esse processo de formação, trazendo obras que são emblemáticas para professores/as, pesquisadores/as e atores sociais ligados à história do trabalho. Em cada episódio, um/a especialista apresenta um livro de impacto em sua trajetória, assim como a importância da obra para a história social do trabalho. Em um formato dinâmico, com vídeos de curta duração, procuramos conectar estudantes a pessoas que hoje são referências nos mais diversos temas, períodos e locais nos mundos do trabalho, construindo, junto com os convidados, um mosaico de clássicos do campo.
A seção Livros de Classe é coordenada por Ana Clara Tavares e Paulo Fontes.