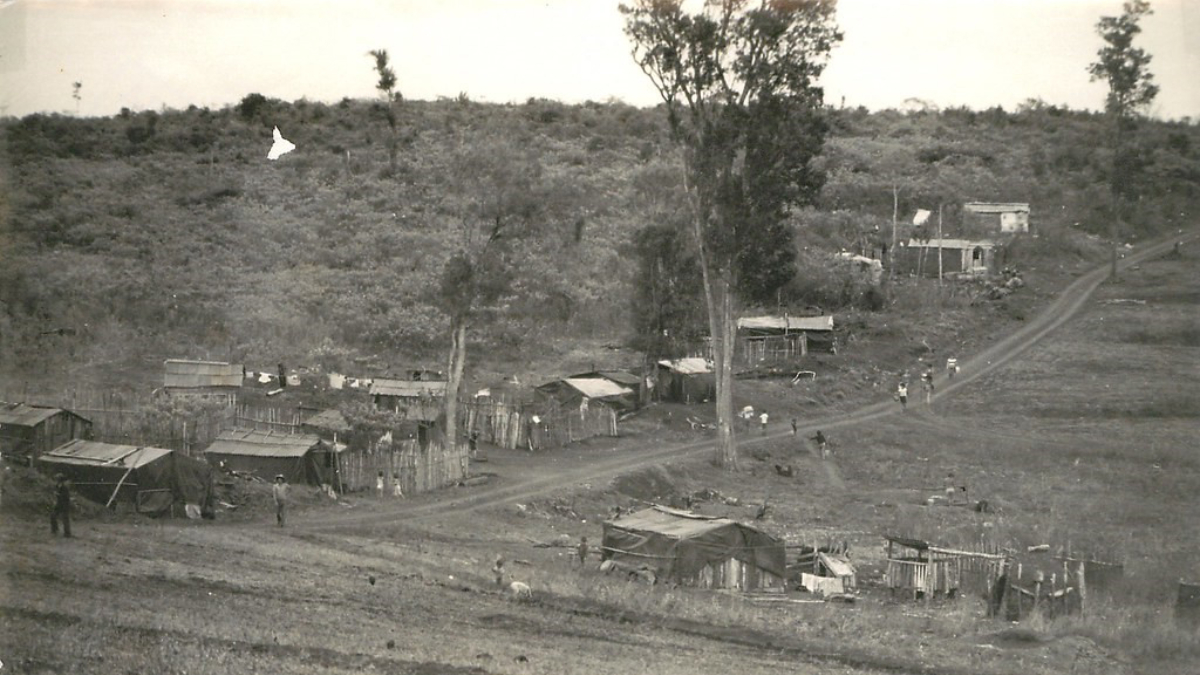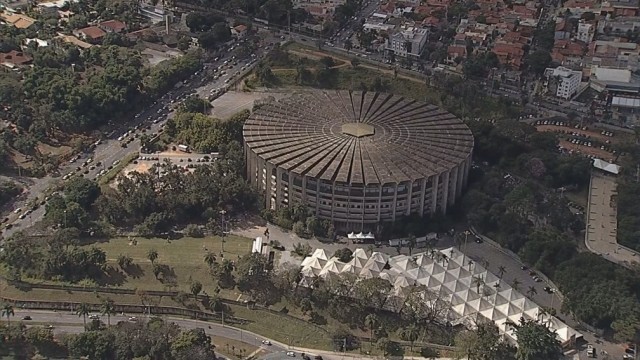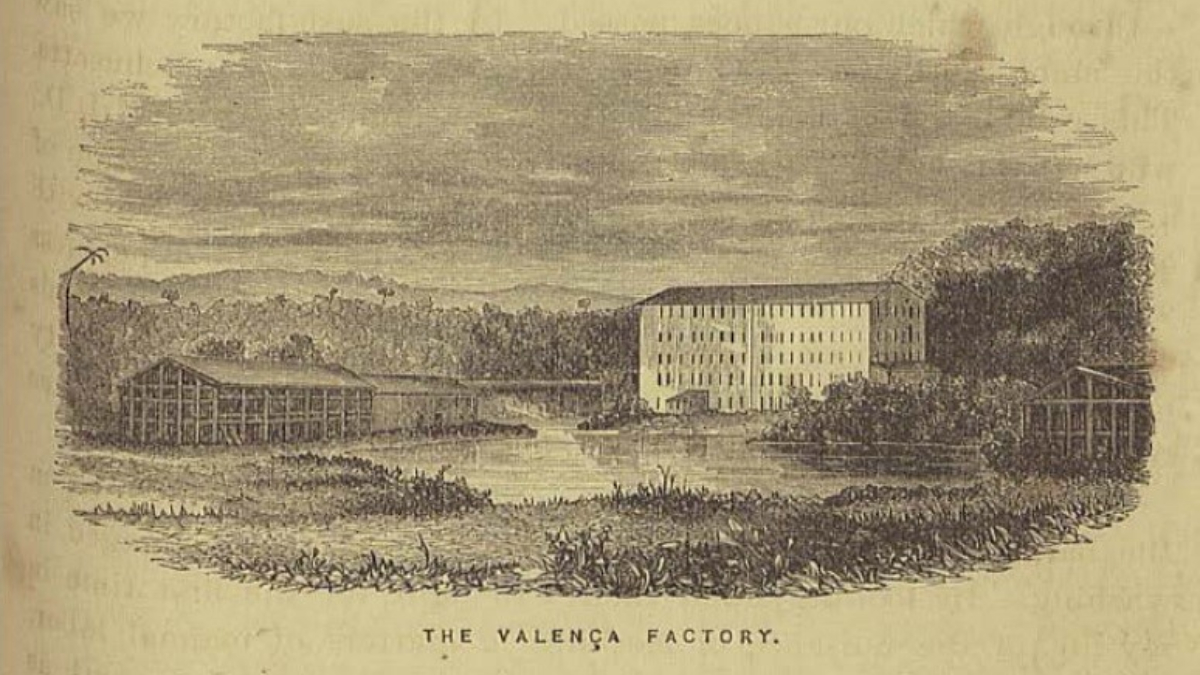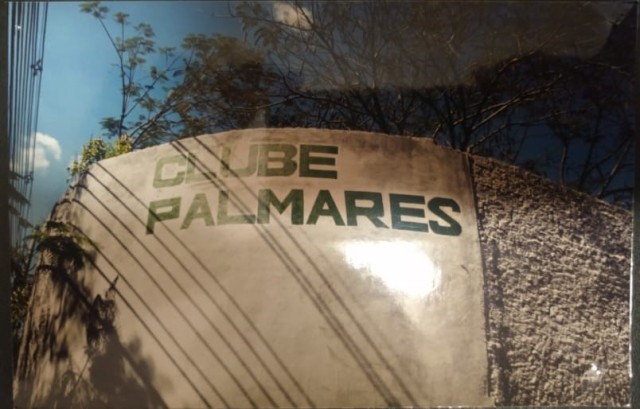Hélio da Costa
Mestre em História Social pela Unicamp e Doutor em Sociologia do Trabalho pela USP
As “Classes Laboriosas”, como se tornou popularmente conhecida, foi fundada em 31 de maio de 1891 como Associação Auxiliadora dos Carpinteiros e Pedreiros. Inicialmente com 400 associados, principalmente imigrantes portugueses, a Associação foi formada com o objetivo de criar cooperativas para o desenvolvimento da construção civil, promover a regulação da relação entre patrões e operários, além de prover assistência médica, serviço que permaneceria ao longo do tempo. A denominação “Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas” seria adotada na década de 1930, quando a assistência foi ampliada para outras categorias profissionais, como os operários da indústria em geral, além dos trabalhadores do comércio.
O número de sócios da Associação cresceu rapidamente e uma nova e ampla sede logo se tornou necessária. Inaugurada em 1907 nas proximidades da Praça da Sé, em um trecho da rua do Carmo (que passaria a se chamar rua Roberto Simonsen na década de 1950), a nova sede impressionava com seus elegantes salões, além de consultórios, laboratório e farmácia.
Como forma de cotizar as despesas da Associação, uma parte do espaço do edifício foi alugado para grupos culturais, como o Centro Dramático e Recreativo Internacional, o Grêmio Dramático Maria Falcão e o Grêmio Dramático e Recreativo Anita Garibaldi. Assim, a Associação passou a fazer parte de forma destacada da cena cultural paulistana das primeiras décadas do século XX com exibição de peças teatrais, espetáculos de música e saraus que tinham grande repercussão na cidade. O salão Celso Garcia, no primeiro andar do edifício, denominado em homenagem ao conhecido advogado defensor dos direitos dos operários, tornou-se famoso na cidade como espaço cultural, de lazer e de organização dos/as trabalhadores/as.
No mesmo período, o salão Celso Garcia e as dependências da Associação em geral passaram a ser frequentemente usados por diferentes sindicatos e associações de trabalhadores para a realização de reuniões, assembleias e variados eventos. A adequação do espaço, a localização central e a proximidade de várias sedes sindicais (muitas delas instaladas, a partir do final dos anos 1920, no vizinho Palacete Santa Helena), tornaram a Associação um lugar de referência fundamental para o movimento operário e motivo de orgulho para os trabalhadores que viam aquele edifício como “seu” lugar em pleno centro aristocrático da capital paulista.
Um espaço de ajuda mútua, de divulgação da cultura operária e de mobilização e discussão política. Comícios contra o aumento da carestia de vida, como o protagonizado pelo poeta e ativista Silvio Romero em 1910 tiveram no prédio das Classes Laboriosas um espaço fundamental. Palestras de lideranças, como a do militante anarquista Oreste Ristori, ocorriam com frequência no local, assim como as festas promovidas por jornais operários.
A impressionante greve de 1917, que incendiou a cidade, teve na Associação um de seus epicentros de organização. Também o crescente associativismo dos trabalhadores negros nos anos 1920 utilizou aquelas instalações para reuniões e festividades. Foi igualmente no salão Celso Garcia, para darmos um outro exemplo, que o primeiro ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, foi recebido em 1931. Ao apresentar a nova legislação sindical, com seus diversos mecanismos de controle estatal, Collor foi fortemente vaiado e hostilizado pelos dirigentes e ativistas sindicais paulistanos.
Em 1933, o edifício, que originalmente fora construído dentro dos padrões do ecletismo, passou por uma grande reforma conduzida pelo engenheiro Amleto Nipote, destacando-se o redesenho da fachada seguindo o padrão estilo art déco muito em evidência na época. Do edifício original foram mantidos integralmente a sala Lourenço Gomes e o salão Celso Garcia.
Reprimidas durante a ditadura do Estado Novo, as discussões políticas e as mobilizações operárias voltariam a ecoar na sede das Classes Laboriosas no pós-guerra. Na onda grevista, que tomou conta da cidade em 1945 e 46, várias reuniões, assembleias e negociações tiveram o salão Celso Garcia e as dependências da Associação como palco. Foi ali também que, em janeiro de 1946, foi realizado o I Congresso dos Trabalhadores do Estado de São Paulo promovido pelo Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), a principal reunião sindical do período. Também em 1953, durante a histórica “Greve dos 300 mil”, o Salão das Classes Laboriosas foi um dos principais QGs da paralisação.
O golpe de 1964 e as mudanças na geografia das lutas sindicais na cidade acabariam por esvaziar o papel político das Classes Laboriosas nas mobilizações dos trabalhadores paulistanos. A entidade focou-se cada vez mais em seus serviços assistenciais na área de saúde e, com a decadência do antigo edifício da Rua Roberto Simonsen, transferiu sua sede para outra localidade. De toda forma, em 1995, aquele histórico prédio foi tombado pelo CONDEPHAAT, órgão de preservação do patrimônio do Estado de São Paulo.
A deterioração do prédio, no entanto, não foi interrompida e no início de fevereiro de 2008 um incêndio, sem vítimas, destruiu parte da edificação. Apesar das promessas de reforma, o abandono do edifício permanece até os dias de hoje. Por enquanto, seus belos vitrais e sua imponente escada com gradis de ferro que conduziam até o elegante salão Celso Garcia, tão importante na trajetória do movimento operário paulistano, ficarão apenas na memória daqueles que fizeram a história desse lugar.


Legenda: Fachada e interior do prédio das Classes Laboriosas em 2011.
Fonte: Site São Paulo Antiga.
Para saber mais:
- AVELINO, Yvone Dias. A Criação da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas no Processo da Imigração Portuguesa em São Paulo. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011.
- BIONDI, Luigi. Classe e Nação: trabalhadores e socialistas italianos em São Paulo, 1890-1920. Campinas- São Paulo: Editora da Unicamp, 2011.
- COSTA, Hélio da. Em Busca da Memória – Comissões de Fábrica, Partido e Sindicato no Pós-Guerra. São Paulo: Scritta, 1995.
- DOMINGUES, Petrônio. Esta “Magnânima Volição”: a Federação dos Homens de Cor. Dossiê Escravidão e Liberdade na Diáspora Atlântica. História (São Paulo) v.37, 2018.
- LEAL, Murilo. A Reinvenção da Classe Trabalhadora (1953-1964). Campinas: Editora da Unicamp, 2011.
Crédito da imagem de capa: Reunião de famílias operárias no Salão Celso Garcia em 1929. Fonte: Site São Paulo Antiga.
Lugares de Memória dos Trabalhadores
As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.
A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.