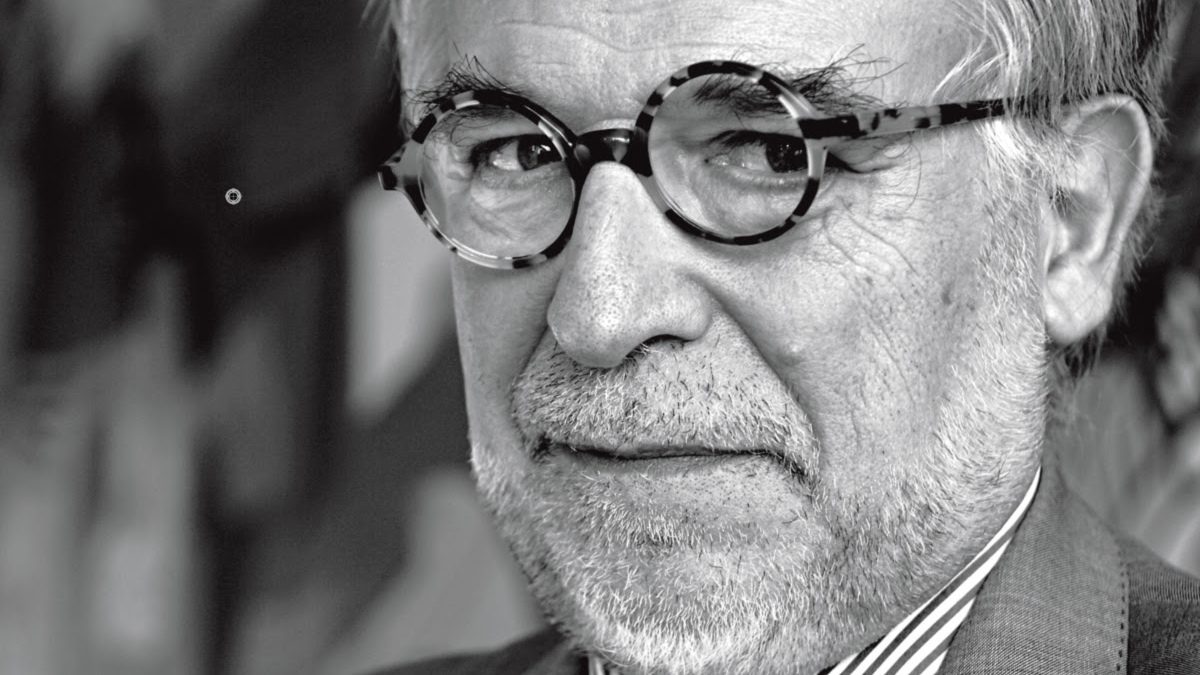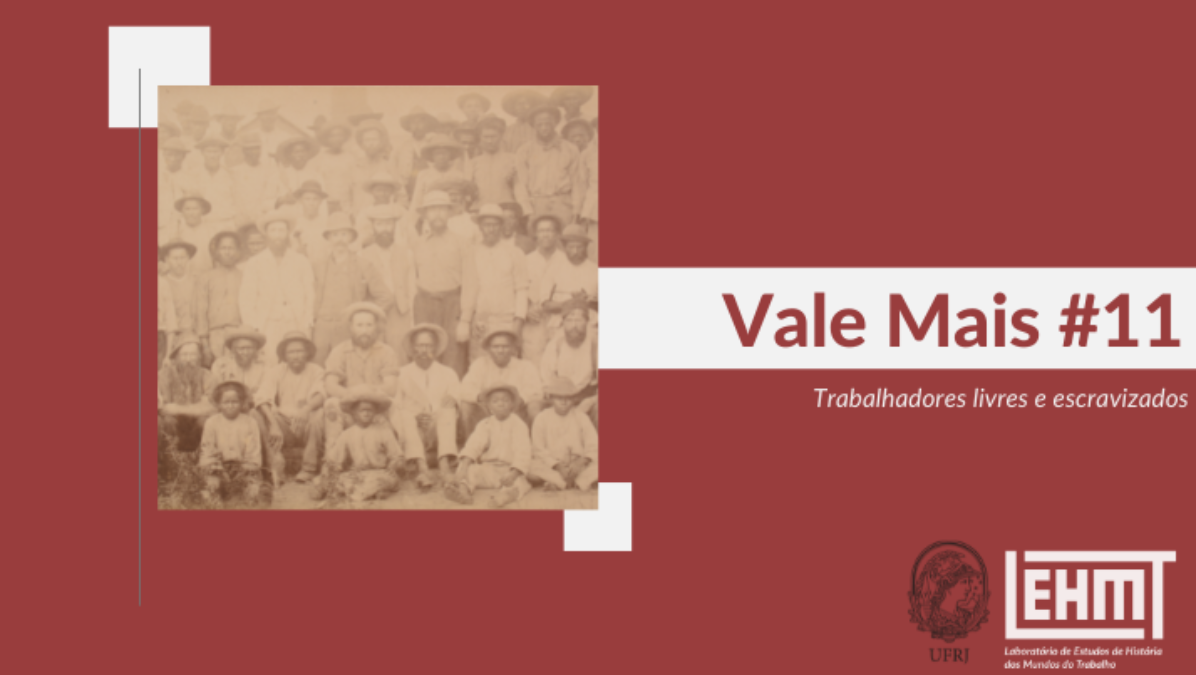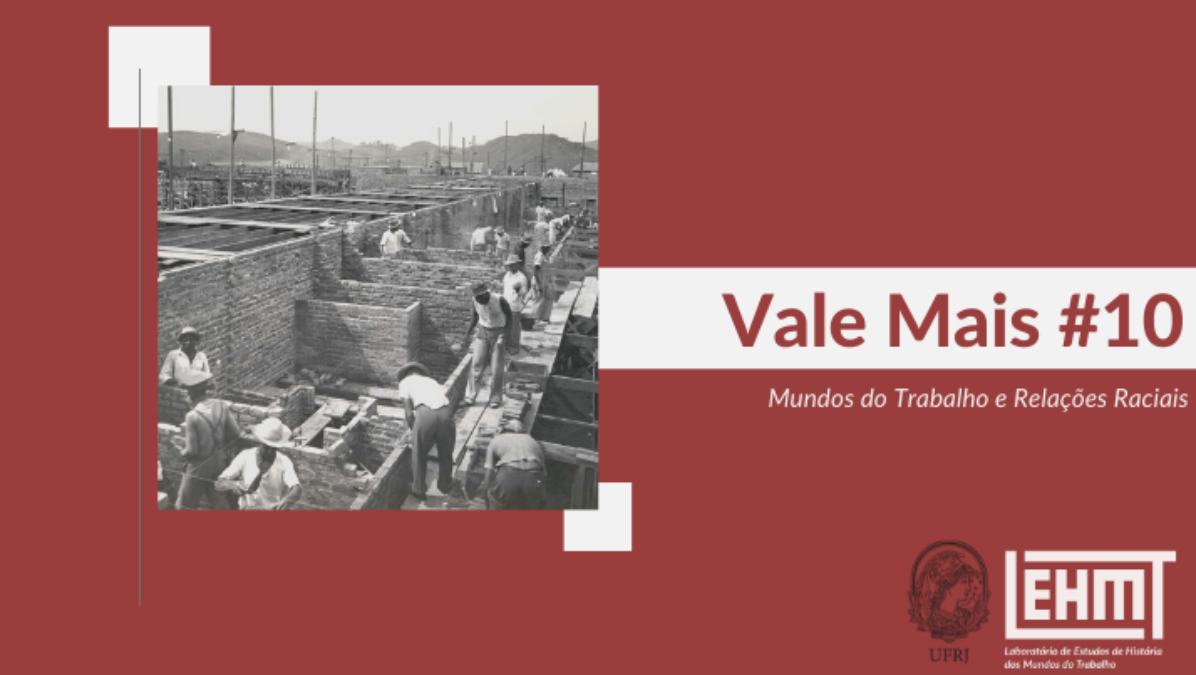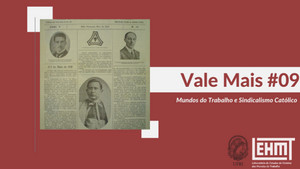Fernanda Nascimento Crespo, professora de História (SME-RJ e Celso Lisboa), mestre em Ensino de História (ProfHist-UERJ) e doutoranda em Educação (PPGE-UFRJ)
Apresentação da atividade
Segmento: 9º Ano
Unidade temática: O nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX
Objetivos gerais:
– Refletir sobre as conquistas e limitações da CLT na Era Vargas.
– Relacionar marcadores sociais de raça, classe e gênero para compreender processos históricos no Brasil República.
– Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.
Habilidades a serem desenvolvidas (de acordo com a BNCC)
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.
(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes
(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil.
Duração da atividade: 3 aulas de 50 minutos
| Aulas | Planejamento |
| 01 | Etapa 1 e 2 |
| 02 | Etapa 3 |
| 03 | Etapa 4 e 5 |
Conhecimentos prévios:
– Processos de exclusão acionados sobre a população afro-brasileira no pós-abolição.
– Ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
Atividade
Propomos a abordagem das lutas, conquistas e limitações em relação aos direitos trabalhistas em nosso país a partir de agências e articulações de Laudelina de Campos Mello, mulher negra, trabalhadora doméstica e fundadora da primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas do Brasil (1936). Professor(a), conheça um pouco a história de Laudelina de Campos Mello.
Texto 1. Laudelina de Campos Mello
Em 12 de outubro de 1904, em Poços de Caldas, Minas Gerais, berrara sua nascença Laudelina de Campos Mello, bem como ainda berrava a recém-nascida República. Estava em curso a chamada Primeira República, inicialmente sob o comando das espadas dos militares e posteriormente sob o cabresto da aristocracia rural brasileira. Neta de um ventre livre, a pequena Nina deu seus primeiros passos em descompasso com um projeto de Brasil que se pretendia branco. Este período foi marcado pela elaboração de projetos nacionais que sustentavam o Brasil como uma nação branca em seu cerne e os africanos e seus descendentes recém-libertos como elementos estrangeiros a essa nação. Em diálogo com certas apropriações da eugenia, tais projetos previam solucionar os problemas da sociedade brasileira eliminado as “raças inferiores”, ou seja, planejavam o embranquecimento para a regeneração de um Brasil que consideravam “atrasado” na perspectiva positivista de progresso. Assim, a cidadania, intrínseca a qualquer república de fato, não fora pensada para recém libertos e afrodescendentes. (…)
A situação da mulher negra no pós-abolição, então, era ainda mais peculiar. Como reflete Bebel Nepomuceno, em Mulheres Negras – protagonismo ignorado, apesar de a virada do século XIX para o XX ser marcada por uma série de conquistas das mulheres, fosse no mundo do trabalho, na esfera política ou mesmo no que tangia à sexualidade e aos direitos reprodutivos, tais avanços não podem ser levados em conta plenamente para pensar mulheres como Laudelina.
(…)
Enquanto mulheres brancas, de grupos sociais privilegiados, conquistavam gradativamente os espaços públicos e um mercado de trabalho ocupado quase que exclusivamente pelos homens brancos até então, mulheres negras como Laudelina, já eram íntimas das ruas e não foram absorvidas por um mercado de trabalho formal. Como um legado dos tempos de escravidão -quando eram muito comuns as cenas de mulheres negras vendendo quitutes nas ruas, trabalhando como lavadeiras ou prestando serviços domésticos de toda sorte -, no pós-abolição, delas se esperava a presença nos espaços públicos e a prestação de serviços, porém a elas eram oferecidas as oportunidades de menor prestígio, menor remuneração e que não contavam com nenhum tipo garantias ou direitos. (…)
O mercado de trabalho no pós-abolição, para Nepomuceno, apresentava-se como um dos campos em que o preconceito racial mais ficava latente. O critério racial de seleção dos empregadores ia ao encontro das políticas oficiais de branqueamento. Os negros eram preteridos pelos imigrantes europeus e seus descendentes, mesmo para a execução de atividades subalternas. Havia grande euforia entre as patroas brasileiras em contratar domésticas de pela clara, por exemplo; porém a presença da mulher negra nos serviços domésticos permaneceu predominante, visto que poucas eram as imigrantes europeias dispostas a enfrentar as humilhações, o salário ínfimo, as extensas jornadas de trabalho e os abusos sexuais recorrentemente cometidos contra estas trabalhadoras. As dificuldades vividas pelas trabalhadoras domésticas foram vivenciadas por nossa protagonista desde cedo. Apesar de aos 16 ou 17 anos ter começado a exercer trabalho doméstico remunerado, desde os 7 anos, aproximadamente, a pequena Nina já desempenhava funções em sua própria casa enquanto sua mãe trabalhava como lavadeira em um hotel. Com 12 anos já desempenhava a função de pajem esporadicamente, além de cuidar dos próprios irmãos.
Chamada pelo ministro do trabalho Jarbas Passarinho, no ano de 1967, de o “terror das patroas”, Laudelina teve sua vida marcada pela luta por melhores condições de trabalho para as domésticas e pelos direitos da população negra em nosso país. Sua atuação política fora marcada pelas relações com diversos militantes negros, comunistas e sindicalistas e o contato e interlocução com as várias organizações políticas distintas como a Frente Negra Brasileira, o Partido Comunista e o Teatro Experimental do Negro fizeram parte das suas histórias. Organizações recreativas e educativas voltadas para a afirmação do povo negro, como o concurso de beleza Pérola Negra, o Clube 13 de Maio e a Escola de Bailados Santa Efigênia, foram obras de sua criação e articulação. A ela é conferida a primeira organização de domésticas do Brasil, criada em 1936 em Santos/SP e fechada em 1942 pelo Estado Novo; a fundação da Associação de Domésticas em Campinas, na década de 1960, também é atribuída à sua luta a conquista da sindicalização desta categoria profissional, ocorrida em 1988.
Aos 87 anos, Vó Nina finalizou sua longa caminhada repleta de lutas e negociações e, a esta altura, a República já colecionava projetos e feições. Nossa personagem, por sua vez, colecionava histórias sobre racismo, afirmação e resistência; sobre negação e conquista de cidadania; sobre a luta e a conquista de diretos trabalhistas; sobre a assimetria inerente às relações de gênero e às táticas desenvolvidas frente a isso. Até mesmo uma participação no movimento de defesa passiva e auxiliar na II Guerra Mundial – e a sobrevivência a um tiro – constam nessas experiências de vida! Laudelina de Campos Mello traz em suas histórias as marcas dos diversos tempos em que viveu, assim como a história do Brasil é marcada pelos agenciamentos por ela protagonizados.
Trecho adaptado de O Brasil de Laudelina: usos do biográfico no ensino de história, de Fernanda N. Crespo, 2016. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3845861. Acesso em 14/06/2021
Texto 2. Questão social
“Durante a Primeira Guerra Mundial a indústria brasileira registrou alto índice de expansão, fruto do declínio do comércio internacional e da consequente necessidade de substituição das importações. Com o aumento das atividades industriais, aumentou o contingente de trabalhadores organizados, o que fortaleceu o movimento operário. Entre 1917 e 1920 inúmeras greves foram decretadas nos principais centros urbanos do país. Em decorrência, o debate sobre a questão social e sobre as medidas necessárias para enfrentá-la ganhou considerável espaço no cenário político nacional. O mesmo acontecia no plano internacional, tanto que o Brasil participou da Conferência do Trabalho de Washington, em 1919. Esse foi um ano de eleições presidenciais aqui, e o tema foi bastante explorado pelo candidato de oposição Rui Barbosa. Mesmo sem apoio de uma máquina eleitoral, Rui conseguiu cerca de um terço dos votos e saiu vitorioso no Rio de Janeiro, então capital da República.
O objetivo central da classe operária era melhorar as condições de vida, de trabalho e salário. Já o empresariado considerava a possibilidade de fazer algumas concessões ao operariado para garantir o processo de produção e de acumulação de capital e, simultaneamente, fazer frente às críticas anti-industrialistas que acusavam o setor de ser o causador da alta do custo de vida além de estimulador de graves problemas sociais com sua intransigência.
Enquanto a classe trabalhadora negociava com os empresários através dos seus sindicatos legalmente organizados, o patronato também se reunia em associações. (…)
O Poder Legislativo deu início a um debate com vistas a encaminhar a aprovação de um Código de Trabalho, o que não chegou a acontecer. Dois deputados destacaram-se na defesa das demandas da classe trabalhadora: Maurício de Lacerda e Nicanor Nascimento. É bem verdade que, para a maioria dos políticos da época, a questão social não era percebida como sendo de natureza econômica ou mesmo social, mas sim como um problema de moral e higiene. Daí, portanto, a tendência a tratá-la em conjunto com os temas de educação e saúde. Com o tempo, entretanto, a questão educacional e a questão sanitária ganharam sua área própria, e abriram-se novas discussões, sobre as reformas educacionais e o movimento sanitarista.
Aos poucos começaram a ser tomadas algumas iniciativas para a criação de normas jurídicas de regulação e controle dos contratos de trabalho. Dava-se início à formação de uma legislação social no país. A primeira dessas leis foi a relativa a acidentes de trabalho, de 1919. Para se precaver, o patronato criou companhias seguradoras, responsáveis pelo pagamento dos benefícios, mas igualmente fontes de acumulação de capital. Em 1920 foi criada a Comissão Especial de Legislação Social da Câmara dos Deputados, com a função de analisar toda e qualquer iniciativa legislativa na área trabalhista. A lei de criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, de 1923, é considerada a primeira lei de previdência social. Também conhecida como Lei Elói Chaves, nome do autor do projeto, ela concedia aos trabalhadores associados às Caixas ajuda médica, aposentadoria, pensões para dependentes e auxílio funerário. A Lei Elói Chaves beneficiou de início apenas os trabalhadores ferroviários. Só três anos mais tarde seus benefícios foram estendidos aos trabalhadores das empresas portuárias e marítimas.
Em 1922 inaugurou-se o governo de Artur Bernardes, que seria marcado por uma grande instabilidade política devido ao movimento tenentista, e por uma forte repressão ao movimento operário. Uma das principais correntes deste último movimento, a dos anarquistas, além de enfrentar a polícia, passou a sofrer a concorrência dos comunistas, que fundaram em 1922 o Partido Comunista do Brasil. O enfraquecimento do poder de pressão da classe trabalhadora, juntamente com a desaceleração do ritmo da produção e o aumento das importações, fez com que setores do empresariado retrocedessem em seu relativo apoio as demandas sociais e trabalhistas. Além disso, o patronato sentia-se, dia a dia, mais lesado em seus direitos e liberdades com o crescente intervencionismo do Estado no campo trabalhista.
Ainda assim, duas leis importantes foram introduzidas na segunda metade dos anos 20: a Lei de Férias (1925) e a Lei de Regulamentação do Trabalho de Menores (1926/27). A primeira visava a obrigar os empresários a concederem 15 dias de férias a seus empregados, sem prejuízo do ordenado, mas foi sistematicamente desrespeitada. Já o Código do Menor estipulava a maioridade a partir dos 18 anos e propunha uma jornada de trabalho de seis horas. Ao contrário da Lei de Férias, enfrentou uma reação apenas parcial, com relação aos limites de idade (de 14 anos) e ao horário de trabalho estipulados.
O cumprimento da legislação social, entretanto, deixava muito a desejar devido à ausência de fiscalização adequada. Apenas os trabalhadores mais organizados e de maior peso político conseguiram, assim mesmo com muita luta, garantir sua aplicação. Isso também se restringia aos grandes centros do país, São Paulo e Distrito Federal, não tendo, portanto, um caráter nacional. Mesmo a criação do Conselho Nacional do Trabalho em 1923, concebido como um órgão específico para tratar de questões dessa natureza, não resolveu o problema. O Conselho teve uma atuação de caráter meramente consultivo, não chegando a operar como planejador de uma legislação social. Só a partir de 1928 o órgão adquiriu poderes para atuar como árbitro de conflitos trabalhistas.
Até a inauguração da Era Vargas o direito social brasileiro só abrangia alguns poucos aspectos da questão trabalhista e menos ainda da questão previdenciária. Seja como for, a implantação de uma legislação social como um todo após a Revolução de 1930 tem suas raízes nessas iniciativas pioneiras e na luta dos trabalhadores desse período.”
Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/QuestaoSocial, acessado em 09 de junho de 2021.
Professor(a), observe que o texto acima apresenta um breve contexto dos avanços de uma legislação trabalhista no Brasil ainda na década de 1920 abordando uma série de categorias da classe trabalhadora, operários, ferroviários, portuários e marítimos. Ressaltamos que além da profissão de doméstica não aparecer no texto, ela sequer era reconhecida como profissão no pós abolição. Isso acontece por uma série de questões que essa atividade propõe debater e refletir com os estudantes. O texto a seguir trata da ampliação dos direitos das empregadas domésticas em 2013.
Texto 3. O Trabalho Doméstico no Brasil
“O trabalho doméstico no Brasil é emblemático. Classe, raça, gênero, entre outras dimensões da vida social, interagem na geração de desigualdades persistentes. Em que pese algumas importantes modificações ao longo dos últimos anos, tais como redução do trabalho doméstico infantil, diminuição do número de trabalhadoras domésticas que dormem no domicílio, envelhecimento da categoria profissional, menor entrada de jovens até 29 anos nesta ocupação etc., o trabalho doméstico ainda continua sendo uma importante categoria ocupacional para milhares de mulheres, especialmente mulheres negras.
A categoria profissional dos trabalhadores domésticos empregava, em 2009, 7,2 milhões de pessoas, das quais 93% (ou 6,7 milhões) eram mulheres. Dessas, 61,6% eram negras e 38,4% brancas. A sobrerrepresentação de trabalhadoras domésticas negras torna-se mais evidente quando se percebe que, para cada conjunto de 100 mulheres brancas ocupadas, 12 são trabalhadoras domésticas, enquanto para cada 100 mulheres negras participantes da População Economicamente Ativa (PEA), 21 são trabalhadoras domésticas (Pinheiro, Fontoura & Pedrosa, 2011).
Em recente estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013) em 117 países, excluindo a China devido a imprecisões metodológicas nas pesquisas demográficas daquele país, o Brasil apresenta-se como o país do mundo com maior número de trabalhadores domésticos. Múltiplas são as razões para a forte presença do trabalho doméstico na sociedade brasileira, a partir mesmo de seu enraizamento profundo na formação de nossa sociedade – da ausência de equipamentos públicos (creches, escolas integrais, lavanderias públicas, restaurantes a preço acessível etc.) à forte concentração de renda.
A existência do trabalho doméstico depende, em grande medida, da alta concentração de renda, o que, obviamente, se conjuga com a existência de uma massa de trabalhadores destituída de recursos materiais e dispostas a vender sua mão de obra. A partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009, constata-se que quase 70% das famílias pertencentes ao décimo mais rico da população contratam uma trabalhadora doméstica, o que significa que cerca de 58% das trabalhadoras domésticas do país são empregadas por famílias situadas entre os 10% mais rico da população (Pinheiro, Gonzales & Fontoura, 2012).
O trabalho doméstico na sociedade brasileira traz inúmeros desafios na construção da igualdade social ou, se quisermos, para a redução da desigualdade a níveis aceitáveis do ponto de vista ético. Um dos principais desafios que se coloca é em relação à formalização do contrato de trabalho ou, como diz Robert Castel (1995), a superação do contrato de “trabalho labial” entre trabalhadora e empregador e o estabelecimento, em seu lugar, de um estatuto coletivo. Atualmente, apenas 26,3% das trabalhadoras domésticas possuem carteira de trabalho assinada, pré-requisito para o usufruto de direitos sociais de há muito consolidados, como férias anuais, aposentadoria, direito ao salário mínimo. Significa dizer que cerca de 5 milhões de trabalhadoras domésticas estão destituídas de qualquer direito. Diante não somente deste quadro atual, mas do quadro histórico de desigualdades, as trabalhadoras domésticas, juntamente com outras organizações e movimentos sociais, têm oferecido uma resposta explicitada por seu ativismo.
A resposta mais recente a este quadro de desigualdades sociais foi a colocação na pauta de discussão do país da chamada PEC das Domésticas, Proposta de Emenda à Constituição que redundou na Emenda Constitucional 72, que alterou o Parágrafo Único do artigo 7º da Constituição Federal, passando a estabelecer a equidade entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais do país. Com essa alteração, as trabalhadoras domésticas, que eram contempladas apenas por nove dos 34 direitos sociais previstos no Capítulo dos Direitos Sociais da Constituição Federal, passaram a ter uma equiparação legal aos demais trabalhadores do país.
Sabe-se que esta conquista legal não é o fim da luta, mas apenas o começo de uma nova fase, num país historicamente caracterizado pelo não cumprimento de leis, o que explica que apenas 26% das trabalhadoras domésticas terem assinadas suas carteiras de trabalho, um direito no entanto assegurado desde 1972. Da mesma forma, sabe-se que os avanços legais não são resultantes exclusivamente do ativismo das trabalhadoras domésticas, mas que para tal feito foram estabelecidas alianças, cooperações e redes entre diversos atores políticos nacionais e internacionais, tais como: movimentos classista-sindicais, movimentos feministas, movimentos negros, agências internacionais, sindicalismos internacionais, parlamentares etc. Todavia, esquecer o ativismo das trabalhadoras domésticas diante destas conquistas seria escrever uma história sem as principais protagonistas.”
Trecho de Decolonialidade e interseccionalidade emancipadora: a organização política das trabalhadoras domésticas no Brasil, de Joaze Bernardino-Costa, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/se/a/tjznDrswW4TprwsKy8gHzLQ/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 14/06/2021
Etapa 1: Laudelina de Campos Mello, o Trabalho Doméstico e a CLT
Divisão da turma em grupos e atribuição de materiais a serem analisados:
Material 1: Fotografia de Laudelina de Campos Mello
O grupo ficará responsável por identificar de que tipo de documento se trata, que informações expressa e traçar um perfil hipotético da personagem histórica retratada. Professor(a), solicite aos estudantes do grupo que ficará com o material 1 que observem a imagem de Laudelina de Campos Mello e em uma folha de papel respondam às questões a seguir:
a) Onde viveu?
b) Em que tempo viveu?
c) Que profissão exerceu?
d) Que elementos da fotografia que mais chamaram a atenção do grupo?

Material 2: Transcrição de trechos do depoimento de Laudelina de Campos Mello à pesquisadora Elisabete Aparecida Pinto entre 1990 e 1991.
O grupo ficará responsável por identificar de que tipo de documento se trata, que informações expressa e traçar um perfil hipotético da depoente.
Professor(a), solicite aos estudantes do grupo que ficaram com o material 2 a leitura atenta do trecho ressaltado. Em seguida peça que destaque no caderno as questões a seguir:
a) Explique a relação estabelecida por Laudelina de Campos Mello entre o trabalho doméstico no Brasil das primeiras décadas do século XX e a escravidão.
b) Identifique de que modo trabalhadoras domésticas reagiram à situação em que se encontravam na década de 1930?
c) O presidente Getúlio Vargas é mencionado por Laudelina de Campos Mello. Por quê?

Material 3: Fragmento da Constituição de 1934
O grupo ficará responsável por identificar de que tipo de documento se trata, quando foi produzido e que informações expressa.
Professor(a), solicite aos estudantes do grupo que ficaram com o material 3 que analisem o trecho do documento destacado e destaquem no caderno as questões a seguir:
a) De que documento se trata? Em que ano foi publicado? E qual é a sua importância?
b) Quais direitos aparecem garantidos no documento?

Material 4: Fragmento do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)
O grupo ficará responsável por identificar de que tipo de documento se trata, quando foi produzido e que informações expressa.
Professor(a), oriente os estudantes desse grupo a fazerem uma leitura atenta dos artigos e responderem a seguinte questão:
a) De que documento se trata? Em que ano foi publicado? E qual é a sua importância?
b) Quais grupos foram excluídos dessa conquista de direitos?

Etapa 2: Quem sou eu nessa História?
Professor(a), a partir da exposição coletiva dos resultados da etapa anterior e montagem final do perfil da personagem a explorando a interface entre as fontes, ressalte junto aos estudantes:
– As condições precárias por ela relatadas em relação ao trabalho doméstico nas primeiras décadas do século XX relacionando-as com as assimetrias raciais rearticuladas no contexto de pós-abolição.
– As conquistas das leis trabalhistas na Era Vargas.
– A articulação das trabalhadoras domésticas através da fundação da Associação em busca de direitos e melhores condições de vida e trabalho, relacionando-a com as lutas e resistências empreendidas pela população afro-brasileira no pós-abolição.
– A exclusão de “empregados domésticos” e “trabalhadores rurais” na CLT (Artigo 7 do Decreto)
Etapa 3: Uma vida, nossas histórias
Exibição de vídeo Laudelina, Suas Lutas e Conquistas, docudrama produzido pelo Museu da Cidade de Campinas.
– Propor que os estudantes identifiquem nas histórias de vida de Laudelina de Campos Mello assimetrias de raça, gênero e classe, ficando cada grupo responsável pelo registro de evidências relacionadas a um desses marcadores sociais.
– Estimular que refletiam sobre a interseção destas questões nas experiências abordadas e em experiências do tempo presente.
Glossário:
Docudrama: também chamado de drama documentário, é um estilo de documentário que apresenta de forma dramática a reconstituição de fatos, utilizando-se atores para isso.
Etapa 4: “O Terror das Patroas”*: ataques à luta das trabalhadoras domésticas
Professor(a), nessa etapa, projete ou distribua uma cópia do documento e leia com os estudantes o trecho destacado da carta anônima enviada à Laudelina de Campos Mello em 1961, logo após a fundação da Associação de Empregadas Domésticas de Campinas naquele mesmo ano.
Após a leitura, solicite que os estudantes,
– Identifiquem críticas e argumentos utilizados pela(o) remetente para a deslegitimação da luta das trabalhadoras domésticas.


*“Terror das Patroas” foi uma expressão utilizada por Jarbas Passarinho, ministro do trabalho em 1967, durante a ditadura militar, para se referir à Laudelina de Campos Mello segundo notícia do Jornal da Cidade do dia 03/07/1967 (PINTO, 1993).
Etapa 5: Prezada(o) patroa(ão), nós te respondemos
Elaboração, em grupos, de resposta à carta anônima destacando os motivos pelos quais as trabalhadoras domésticas passaram a se articular politicamente em busca de direitos. Os estudantes mobilizarão conhecimentos construídos através do estudo das fontes nas etapas anteriores.
Bibliografia e Material de apoio:
CRESPO, Fernanda. O Brasil de Laudelina: Usos do biográfico no ensino de história. Dissertação (PROFHISTORIA) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, 2016.
PINTO, Elisabete Aparecida. Etnicidade, gênero e educação: a trajetória de vida de Laudelina de Campos Mello (1904-1991). São Paulo: Anita Garibaldi, 2015.
___________.Etnicidade, Gênero e Educação: A Trajetória de Vida de Dª Laudelina de Campos Mello (1904-1991). Vol 1- Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Educação, 1993. 493 pp.
Créditos da imagem de capa: https://casalaudelinadecamposmello.wordpress.com/quem-foi-a-lider-laudelina-de-campos-mello/ acessada em 21 de junho de 2021 no Blog Casa de Laudelina.
Chão de Escola
Nos últimos anos, novos estudos acadêmicos têm ampliado significativamente o escopo e interesses da História Social do Trabalho. De um lado, temas clássicos desse campo de estudos como sindicatos, greves e a relação dos trabalhadores com a política e o Estado ganharam novos olhares e perspectivas. De outro, os novos estudos alargaram as temáticas, a cronologia e a geografia da história do trabalho, incorporando questões de gênero, raça, trabalho não remunerado, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes categorias e até mesmo desempregados no centro da análise e discussão sobre a trajetória dos mundos do trabalho no Brasil.
Esses avanços de pesquisa, no entanto, raramente têm sido incorporados aos livros didáticos e à rotina das professoras e professores em sala de aula. A proposta da seção Chão de Escola é justamente aproximar as pesquisas acadêmicas do campo da história social do trabalho com as práticas e discussões do ensino de História. A cada nova edição, publicaremos uma proposta de atividade didática tendo como eixo norteador algum tema relacionado às novas pesquisas da História Social do Trabalho para ser desenvolvida com estudantes da educação básica. Junto a cada atividade, indicaremos textos, vídeos, imagens e links que aprofundem o tema e auxiliem ao docente a programar a sua aula. Além disso, a seção trará divulgação de artigos, entrevistas, teses e outros materiais que dialoguem com o ensino de história e mundos do trabalho.
A seção Chão de Escola é coordenada por Claudiane Torres, Luciana Pucu Wollmann do Amaral e Samuel Oliveira