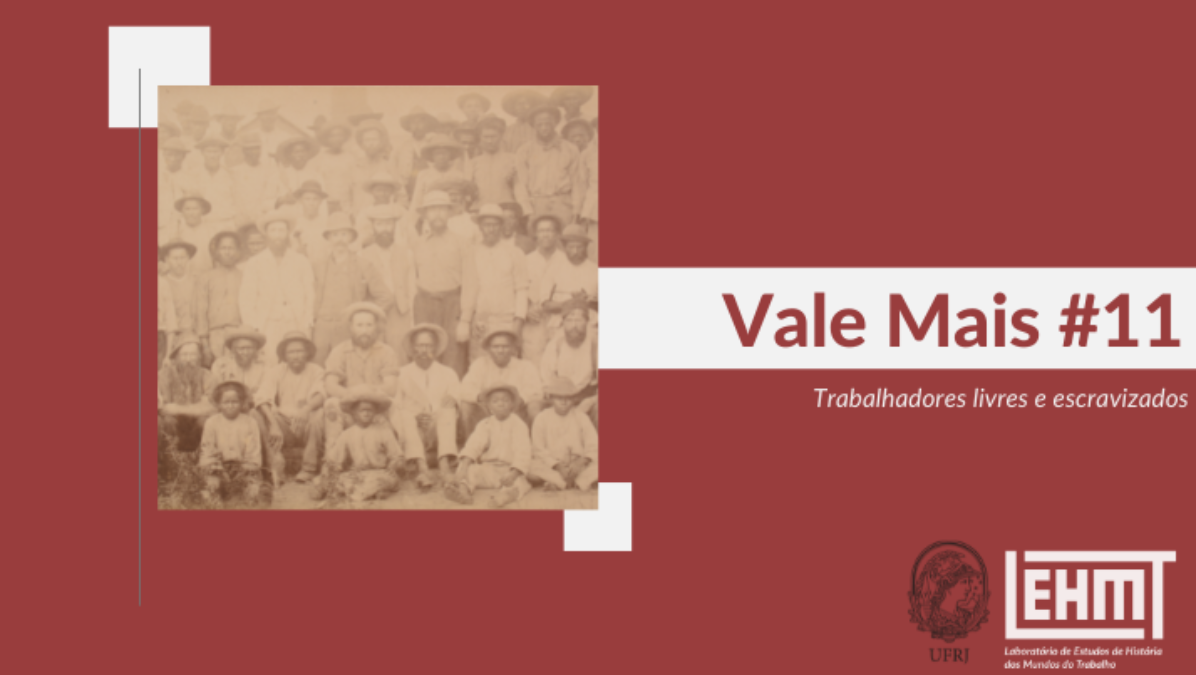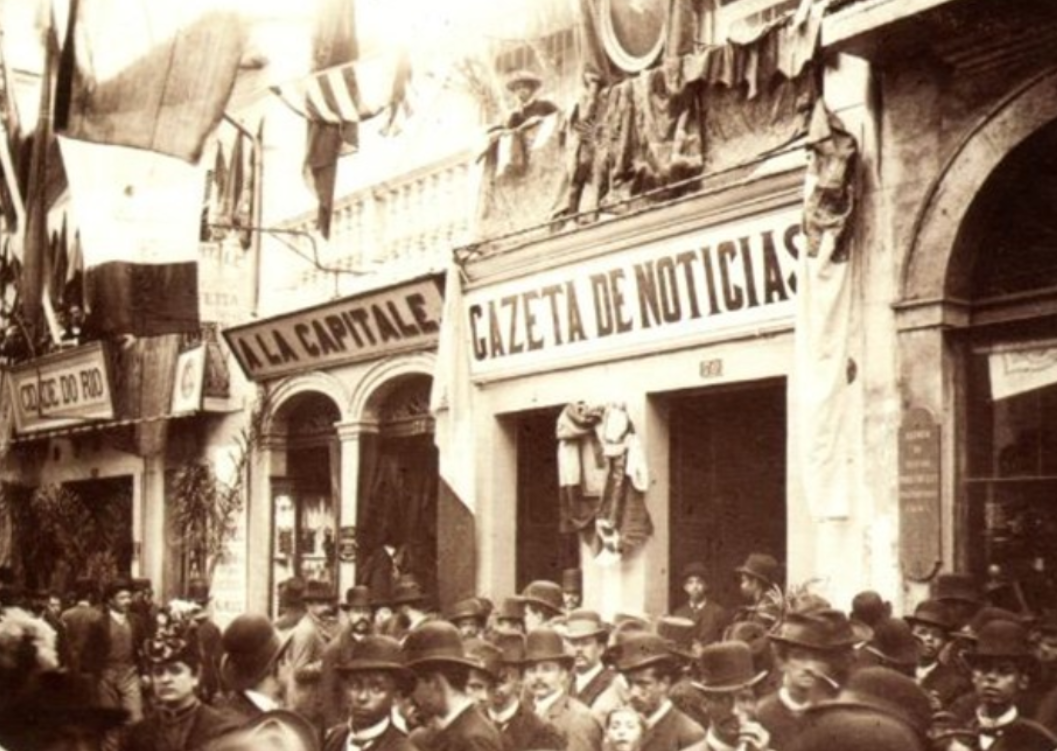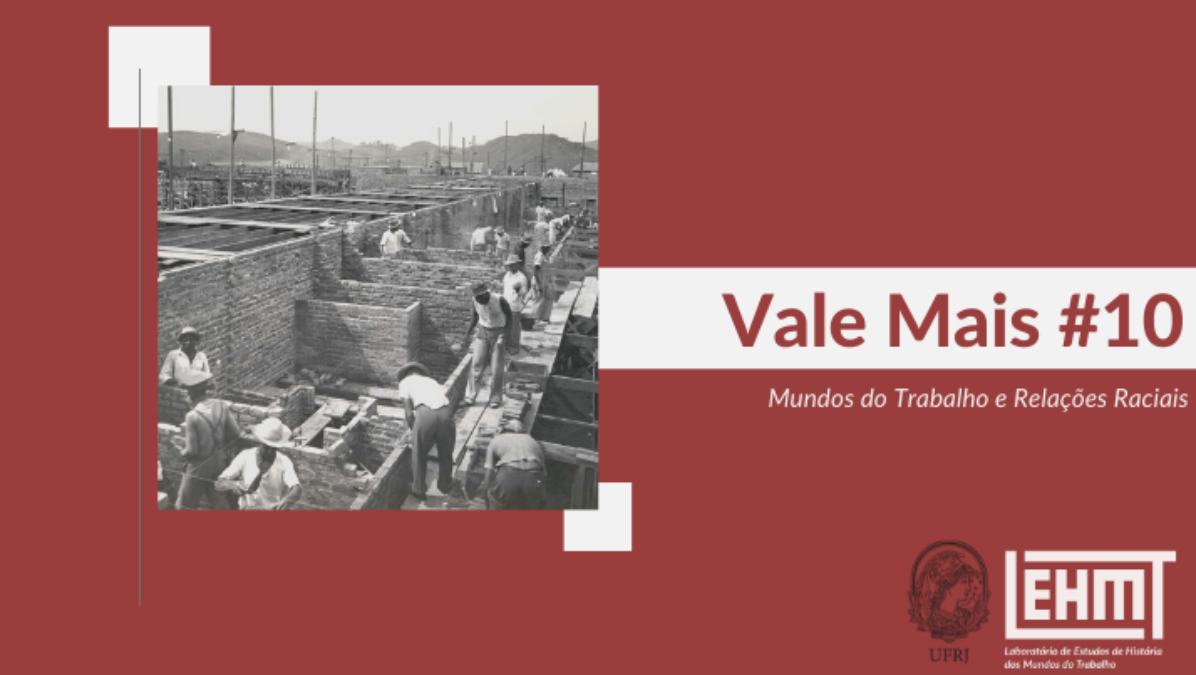Andréa Casa Nova Maia
Professora do Instituto de História da UFRJ
Instalada em 1878, numa antiga fazenda local, a Fábrica de Tecidos de Marzagão em Sabará foi uma das primeiras a se dedicar à atividade industrial têxtil em Minas Gerais. Para se ter uma ideia da grandiosidade do empreendimento, a fábrica já tinha, em 1885, uma das maiores produções anuais em metros de tecidos e consumo de algodão da província. Sua vila operária chegou a contar com cerca de 2.000 moradores. Além de casas, a vila contava com uma escola primária, correio, cartório, açougue, padaria, posto médico, pensionato para moças e rapazes, além da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Para o lazer dos operários, foi formada uma banda de música, um time de futebol, um grupo de escoteiros e mesmo um cinema. As origens rurais da fábrica, em uma das principais regiões escravistas do país, marcou fortemente a composição do operariado local, formado em grande medida por negros e negras.
O cotidiano dos trabalhadores e a estrutura da vila operária de Marzagão foi matéria da revista Belo Horizonte em 1933. Vale a pena destacar como o controle e fiscalização das atividades de trabalho eram exercidas pelo empresário e político do Partido Republicano Mineiro, Manoel Carvalho de Brito, que adquiriu a tecelagem em 1915. Brito implementou um modelo de gestão com intenso controle e intervenção dos patrões na vida cotidiana de seus empregados e forte disciplina dentro e fora da fábrica. Segundo a revista, os moradores eram gente “simples, ordeira e trabalhadora” e a rotina do lugar era como a de outras vilas do interior, com o movimento dos trens de subúrbio, das missas, do cinema mudo e do footing.
Os cerca de mil operários e operárias de Marzagão trabalhavam das cinco da manhã, “quando um apito forte os acordavam, até que o outro apito mandava parar à tardinha”. Ainda de acordo com a reportagem, os trabalhadores locais “gozavam de todas as regalias possíveis”, todos “com ótimos salários”, mesmo antes das leis trabalhistas e criação da estrutura corporativista da Era Vargas. Além do trabalho na fábrica, havia uma escola de tecelagem anexa onde trabalhavam 50 aprendizes e cerca de 150 casas “confortáveis e espaçosas” para as famílias de trabalhadores. Havia ainda uma pensão para moças solteiras onde as operárias moravam e faziam suas refeições. Como em outras empresas têxteis do período, o trabalho de mulheres e crianças era disseminado, sendo comuns os relatos de emprego de meninas de até 10 anos. Em 1946, a população da Vila de Marzagão era de cerca de 2.400 pessoas, praticamente todos trabalhadores/as da fábrica e suas famílias.
Apesar de todo o controle empresarial, os operários e operárias de Marzagão tornaram-se um dos grupos que mais lutaram por direitos em Minas Gerais, particularmente entre o final da década de 1950 e o início dos anos 60. O movimento operário local teve forte influência da Igreja Católica, em particular nas comissões de fábrica que se formaram na empresa de forma independente do sindicato oficial e de partidos políticos como o PCB ou o PTB.
Um exemplo de mobilização ainda forte na memória local foi a famosa greve de mais de 30 dias realizada pelos trabalhadores, após meses sem receberem seus salários, entre dezembro de 1960 e janeiro de 1961. A “Passeata da Panela Vazia” que reuniu milhares de operários e seus familiares, que contou com um vasto apoio político e sindical, foi um dos momentos marcantes daquele movimento, tendo ampla repercussão nacional.
A vila operária e as condições de vida dos(as) trabalhadores(as) da fábrica de Marzagão não passaram despercebidas aos olhos atentos de Guimarães Rosa. A vila é cenário de “Sinhá Secada”, um dos contos do livro Tutaméia, Terceiras Estórias, de 1967. O narrador do conto leva Sinhá para “aquele intato lugar.” Empregados na fábrica, ambos moravam “numa daquelas miúdas casas pintadas, pegada uma a outra, que nem degraus da rua em ladeira, que a Sinhá descia e subia, às horas certas, devidamente, sendo a operária exemplar que houve, comparável às máquinas, polias e teares, ou com o enxuto tecido que ali se produz.”
Desde 1950, a produção de tecidos, o principal produto oferecido ao mercado pela fábrica do Marzagão, foi sendo substituída pela fabricação de lonas e cordonéis para a Indústria de Pneus Brasil, localizada no Rio de Janeiro, também de propriedade da família Carvalho de Brito. Neste momento, o empreendimento em Sabará não era mais o principal negócio do grupo empresarial e uma longa crise se abateu sobre o empreendimento. Em 1972, a indústria estava em uma situação irrecuperável e a fábrica foi vendida para o grupo Paraopeba Industrial S/A. A família Carvalho de Brito, através da empresa União Rio Empreendimentos manteve a propriedade das casas da vila operária, das quais continuava a cobrar aluguéis .
A Tecelagem, no entanto, continuou em decadência. Em 1983 os galpões da antiga fábrica foram ocupados pelas confecções Marcel Phillipe, mas cerca de 80% se encontravam vazios, sem utilização. A comunidade de moradores da vila, formada por antigos trabalhadores/as da fábrica e seus descendente sofreu, desde então um acelerado processo de empobrecimento. A Vila do Marzagão se encontra bastante descaracterizada, mas os moradores mantêm viva a memória da vida operária de tempos atrás.
O tombamento estadual do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Elisa, Vila Operária e Antiga Fábrica de Tecidos de Marzagão foi aprovado pelo Conselho Curador do IEPHA/MG em 2004 e colocou definitivamente toda aquela paisagem, fincada entre as montanhas de Minas, como um lugar de memória de trabalhadores e do trabalho no Brasil. Mesmo em ruínas, Marzagânia, como era chamada, continuará reverberando suas histórias de vida e de luta por direitos.

Fonte: Associação dos Amigos e Moradores de Marzagão – ACAMM
Para saber mais:
- ÁVILA, Rodrigo Pletikoszits de. “A Centralidade Do Trabalho Na Formação Social Da Vila De Marzagão“. Revista Mundos do Trabalho, vol.1, n. 1, janeiro-junho de 2009.
- DELGADO, Lucília de Almeida Neves. LE VEN. Michel Marie. “Marzagânia: Fábrica operária e movimento sindical”. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte: UFMG, Nº 73, 1991.
- MATEUS, Adalberto Andrade. & GUIMARAES, Silvio Tadeu. “Conjunto Arquitetônico da Vila Elise, Vila Operária e Antiga Fábrica de Tecidos de Marzagão” Guia dos Bens Tombados pelo IEPHA-MG. Volume 2. Disponível em http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/7-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-2
- REVISTA BELLO HORIZONTE. “O parque industrial do Marzagão, uma grande uzina de trabalho”. Belo Horizonte, ano1, nº 6, 30 set. 1933.
- Manoel Tomás De Carvalho Brito II – Fábrica De Tecidos Marzagão (Sabará-mg) – Sua História, Curiosidades, Fotos E Depoimentos . http://euamoipatinga.com.br/personagens/noticias.asp?codigo=847 .
Crédito da imagem de capa: Vista do Conjunto Arquitetônico nos anos 80. Fonte: IEPHA-MG.
Lugares de Memória dos Trabalhadores
As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.
A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.